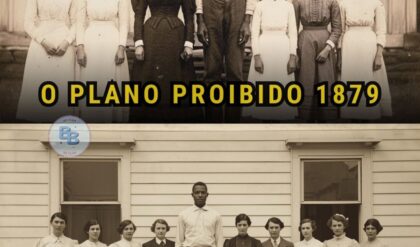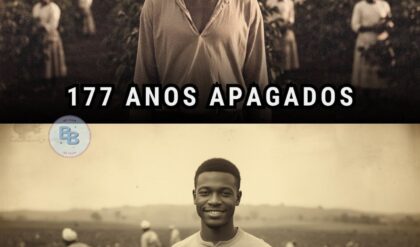Rio de Janeiro, 13 de maio de 1881. No segundo andar do imponente casarão da rua do ouvidor, o tabelião Henrique Barbosa segura um documento que faz suas mãos tremerem. Não pela idade do papel, não pela caligrafia irregular, mas pelo conteúdo que está prestes a ler em voz alta.

Diante dele, três mulheres negras aguardam de pé, vestidas com roupas simples de algodão cru. Do outro lado da sala, 17 herdeiros brancos observam com olhares que misturam curiosidade e desprezo. Ninguém ainda imagina que este testamento não apenas dividirá fortunas, mas rasgará o tecido social de uma das cidades mais importantes do império.
Se você está gostando desta narrativa histórica, deixe seu like agora para que mais pessoas conheçam histórias reais que mudaram o Brasil. O tabelião limpa a garganta. A sala de paredes forradas com papel de parede francês e móveis de jacarandá fica absolutamente silenciosa. Apenas o ruído distante das carruagens na rua quebra tensão.
Henrique começa a ler com voz firme, tentando esconder o nervosismo. O testamento data de 23 de dezembro de 1880, 3 meses antes da morte do coronel Antônio Ferreira Guimarães, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro. As primeiras linhas descrevem propriedades conhecidas. A fazenda de café em vassouras com seus 300 escravizados, o casarão de três andares em Botafogo, ações da Companhia de navegação, terrenos no centro.
A fortuna é avaliada em 300 contos de réis, equivalente hoje a dezenas de milhões. Os parentes respiram aliviados enquanto ouvem seus nomes sendo mencionados. Então o tabelião vira a página. Sua voz hesita por um instante antes de continuar. O coronel deixa metade de toda sua fortuna para três mulheres, Marcelina, Felicidade e Sebastiana, três escravas que ele libertou formalmente apenas dois dias antes de sua morte.
O silêncio explode em gritos indignados. A sobrinha mais velha do coronel, dona Amélia Guimarães, levanta-se bruscamente. Seu vestido de seda roça no chão encerado enquanto ela aponta para as três mulheres, exige que o tabelião pare imediatamente a leitura, alegando que o documento é falso, que seu tio estava senil, que aquelas mulheres certamente enfeitiçaram o velho. Outros parentes se juntam ao couro. Um primo distante sugere que o testamento foi forjado.
Outro questiona a sanidade mental do coronel em seus últimos dias. Henrique Barbosa ergue a mão pedindo silêncio. Explica que o documento foi redigido em seu próprio cartório na presença de cinco testemunhas idoneias, incluindo dois médicos que atestaram a plena capacidade mental do coronel.
Asinaturas foram reconhecidas, os selos autenticados. O testamento é absolutamente legal perante as leis do império. Marcelina, a mais velha das três mulheres, permanece imóvel. Seu rosto marcado por cicatrizes antigas não demonstra nenhuma emoção. Felicidade, mais jovem, aperta as mãos uma contra outra, os nós dos dedos ficando brancos.
Sebastiana mantém os olhos fixos no chão, como fez durante toda sua vida de servidão. Nenhuma delas esperava estar ali. Nenhuma delas pediu por isso. O tabelião continua lendo. O coronel deixou instruções específicas. As três mulheres devem receber suas partes em dinheiro, propriedades urbanas e ações. Não podem ser contestadas, não podem ser deserdadas.
Mais ainda, ele estabeleceu uma cláusula que doa 50 contos de réis para a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a maior organização de negros livres e libertos do Rio de Janeiro. Quando a leitura termina, dona Mélia anuncia que entrará na justiça no dia seguinte.
Os outros parentes concordam em couro, saem batendo portas, deixando o escritório em silêncio perturbador. As três mulheres continuam paradas, agora sozinhas com tabelião. Henrique as observa com expressão indecifrada, então fecha o testamento e entrega a cada uma delas uma cópia autenticada, dizendo apenas uma frase que coa pela sala vazia. A batalha está apenas começando. 15 anos antes, em 1866, Marcelina chegou ao casarão do coronel com 32 anos de idade.
Trazida de uma fazenda no interior após a morte de seu antigo senhor, ela foi vendida em leilão público no Valongo, o maior mercado de escravos das Américas. O coronel a comprou por R$ 150.000, valor alto para uma mulher de sua idade. Mas Marcelina tinha habilidades raras.
sabia ler, fazer contas e administrar uma casa grande com dezenas de pessoas. No casarão da rua Primeiro de Março, Marcelina assumiu rapidamente o controle da rotina doméstica. comandava outros 12 escravizados, organizava os jantares que o coronel oferecia para políticos e comerciantes, gerenciava as compras no mercado.
O coronel, viúvo há 10 anos e sem filhos, percebeu nela uma inteligência que transcendia sua condição. Começou a pedir sua opinião sobre assuntos domésticos, depois sobre negócios, finalmente sobre investimentos. Felicidade chegou 2 anos depois, em 1868, com apenas 16 anos. Nascida em uma fazenda de cana no Recôncavo Baiano, foi vendida para o rio junto com sua mãe, mas separada dela no mercado.
O coronel a comprou após observar suas mãos habilidosas trabalhando com rendas durante o leilão. No casarão, felicidade tornou-se responsável pelas roupas finas, pelos bordados que decoravam as salas, pelas toalhas de linho que cobriam as mesas nos jantares. Suas mãos criavam beleza mesmo em meio à prisão. Marcelina tomou felicidade sob sua proteção.
ensinou-lhe a sobreviver naquela casa onde as regras mudavam conforme o humor do Senhor, onde um erro pequeno podia resultar em castigos severos. Mostrou-lhe onde guardar comida extra, como evitar a ira do feitor, quando permanecer invisível e quando se fazer presente. Felicidade aprendeu rápido.
Aprendeu também a ler em sessões noturnas secretas no sótam, usando livros que Marcelina conseguia emprestar da biblioteca do coronel. Sebastiana foi a última a chegar em 1871 com 20 anos. Comprada de uma família falida em Petrópolis, ela trouxe consigo conhecimentos de cozinha sofisticada, aprendidos com o chefe francês que trabalhou para seus antigos senhores.
No casarão, transformou as refeições em eventos memoráveis. O coronel, que apreciava boa comida, começou a receber elogios de seus convidados pela qualidade dos jantares. As três mulheres formaram uma aliança silenciosa. Não era amizade no sentido convencional. Amizade requer liberdade de escolha, mas uma rede de sobrevivência mútua.
Marcelina planejava, felicidade executava, Sebastiana sustentava. Juntas tornaram casarão um modelo de eficiência que causava inveja entre a elite carioca. O coronel percebia o valor delas, mas continuava sendo que sempre foi um senhor de escravos. Esta história real precisa ser conhecida. Compartilhe agora para que mais pessoas entendam a complexidade das relações no Brasil imperial.
Os anos passaram em rotina rigorosa. Acordar antes do sol nascer, preparar o café do coronel, limpar, cozinhar, costurar, administrar. As três mulheres envelheciam naquele casarão enquanto a cidade lá fora fervilhava com debate sobre abolição. Jornais publicavam artigos inflamados. Políticos discursavam no parlamento. Escravizados fugiam inúmeros crescentes para quilombos nas montanhas.
Mas dentro daquelas paredes a vida continuava presa no tempo. O coronel, porém, começou a mudar. Talvez pela idade avançada, talvez pelas conversas que ouvia em seus círculos sociais, talvez por algo mais profundo. Começou a observar as três mulheres com olhos diferentes. Via nelas não apenas servas, mas seres humanos cujas vidas ele controlava completamente.
Via a inteligência de Marcelina desperdiçada encomadar uma cozinha. Via o talento artístico de felicidade confinado a bordar toalhas. Via a maestria culinária de Sebastiana servindo apenas seus caprichos. Em dezembro de 1880, aos 73 anos, o coronel acordou de madrugada com dores no peito. Chamou seu médico particular, que diagnosticou problemas cardíacos graves.
Os dias estavam contados. Foi então que o coronel mandou chamar tabelião Henrique Barbosa e iniciou um processo que chocaria o Rio de Janeiro. Primeiro redigiu três cartas de alforria. Depois começou a ditar seu testamento. Rio de Janeiro, 1881. A capital do império brasileiro vivia seus anos mais turbulentos desde a independência. Com 500.
000 habitantes, a cidade se estendia do porto até os morros, uma mistura caótica de sobrados coloniais, palacetes neoclássicos e cortiços superlotados. Nas ruas de paralelepípedos, bondes puxados por burros disputavam espaço com carruagens particulares e carroças de vendedores ambulantes.
O centro fervilhava especialmente na rua do ouvidor, coração comercial da cidade. Ali se concentravam as lojas mais elegantes, os cafés frequentados pela elite, as livrarias onde intelectuais debatiam os rumos da nação. Era também ali no número 132, que ficava o escritório do advogado Rui Barbosa, jovem jurista que começava a ganhar fama defendendo causas abolicionistas. A notícia do testamento do coronel Guimarães espalhou-se pela cidade como pólvora.
Nos salões da elite, o escândalo era comentado em voz baixa, com mistura de indignação e curiosidade mórbida. Como um dos seus, um homem de família tradicional, proprietário de escravos desde sempre, podia cometer tamanha traição à sua classe.
Dona Amélia Guimarães tornou-se figura central nessa indignação, visitando casa por casa, buscando apoio para anular o testamento. A elite se mobiliza. No passo imperial, onde funcionava o Senado, políticos conservadores aproveitavam o caso para argumentar contra a lei do ventre livre, aprovada 10 anos antes. usavam o testamento como exemplo do caos que a abolição gradual estava causando.
Um senador chegou a discursar que libertar escravos e torná-los herdeiros era inverter a ordem natural das coisas, destruir os fundamentos da civilização. Mas havia outro Rio de Janeiro invisível para a elite. Nos cortiços da cidade Nova, nos quilombos urbanos da Gamboa, nas irmandades religiosas do bairro da saúde, a notícia causava reação oposta.
Três mulheres negras, exescravas, herdando uma fortuna imensa. Era mais que improvável, era revolucionário, representava uma possibilidade, por menor que fosse, de justiça em uma sociedade construída sobre séculos de injustiça. A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, beneficiária do Testamento, convocou reunião extraordinária.
Sua sede na igreja de São Domingos ficava lotada com mais de 200 pessoas. Negros livres, libertos, escravos de ganho que pagavam hornadas aos senhores. Discutiram não apenas os 50 contos de réis que receberiam, mas o significado político do gesto do coronel. José do Patrocínio, jornalista mulato e abolicionista fervoroso, publicou o artigo no jornal Gazeta da Tarde.
Defendia o testamento como exemplo de consciência tardia, reconhecimento de dívida histórica. Seu texto era inflamado, chamando outros proprietários a seguirem o exemplo do coronel. A edição esgotou em horas. Conservadores exigiram retratação. Patrocínio recusou. Enquanto a cidade debatia, Marcelina, Felicidade e Sebastiana viviam em Limbo, tecnicamente livres após as cartas de alforria, mas ainda sem acesso à herança devido aos processos judiciais.
continuavam morando no casarão, agora vazio da presença do coronel, mas cheio de sua ausência. Os outros escravizados da casa haviam sido vendidos pelos parentes do coronel antes mesmo do enterro numa tentativa de liquidar ativos rapidamente. As três mulheres receberam ameaças, cartas anônimas deixadas embaixo da porta, pedras jogadas contra janelas de madrugada, gritos na rua quando saíam para comprar mantimentos.
Dona Amélia havia espalhado boatos de que elas haviam enfeitiçado o coronel, usado macumbas para dominar sua mente. Em uma sociedade onde a maioria acreditava em feitiçaria, tais acusações eram perigosas. Marcelina mantinha a calma. Aos 47 anos, havia sobrevivido a coisas piores que ameaças veladas. Organizava a defesa delas com precisão militar. Trancava todas as portas e janelas à noite. Nunca saía sozinha.
guardava cópias do testamento em três lugares diferentes. Sabia que a batalha legal seria longa e brutal. Sabia também que muitos desejavam que elas simplesmente desaparecessem. Felicidade, mais jovem e impetuosa, queria revidar, queria ir até os jornais, contar sua versão da história, denunciar os parentes do coronel. Marcelina a aconselhava paciência.
A sociedade não estava pronta para ouvir a voz de mulheres negras, exescravas. Qualquer palavra dela seria usada contra elas mesmas. Melhor permanecer em silêncio, deixar os advogados falarem por elas. Sebastiana, a mais quieta das três, passou a ter pesadelos. sonhava que voltava a ser escrava, que as cartas de alforria eram apenas papel queimado, que acordaria acorrentada novamente.
Marcelina consolava nas noites ruins, lembrando-á que a liberdade, uma vez conquistada no papel, não podia ser roubada tão facilmente. Mas ambas sabiam que em um país onde leis eram frequentemente ignoradas quando conveniente, até documentos oficiais tinham valor relativo.
O advogado contratado para defendê-las, indicado pela Irmandade do Rosário, era um jovem mestiço chamado Francisco de Paula. Formado pela Faculdade de Direito do Recife, ele aceitou o caso sabendo que destruiria qualquer chance de carreira convencional na advocacia. Mas Francisco não buscava convencionalidade, buscava precedente, jurisprudência, uma brecha no sistema que um dia pudesse ser usada para libertar outros.
Para entender porque o coronel Antônio Ferreira Guimarães tomou decisão tão radical, é preciso voltar à sua própria história. Nascido em 187, filho de comerciante português e herdeira de fazendeiro fluminense, Antônio cresceu em mundo onde escravidão era tão natural quanto o ar que se respira.
Aos 12 anos, ganhou seu primeiro escravizado de presente de aniversário. Aos 20, quando herdou a fortuna paterna, possuía 73 seres humanos. construiu o império econômico baseado no trabalho forçado. Sua fazenda em vassouras produzia café que era exportado para Europa e Estados Unidos. investiu em ações de companhias de navegação que transportavam escravizados da África para o Brasil mesmo após 1850, quando o tráfico foi oficialmente proibido.
Comprou terrenos no centro do rio usando lucros obtidos do suor e sangue de centenas de pessoas que considerava propriedade. Casou-se aos 30 anos com Mariana Silveira, filha de Barão do Café. O casamento durou apenas 8 anos. Mariana morreu de febre amarela em 1845, deixando viúvo e sem filhos. Antônio nunca se casou novamente. Dedicou-se aos negócios com obsessão que intrigava seus contemporâneos.
Acumulou fortuna, mas não alegria. Enriqueceu, mas permaneceu essencialmente sozinho naquele casarão imenso. A transformação começou sutilmente nos anos 1870. O coronel, já na casa dos 60, começou a questionar coisas que antes aceitava automaticamente.
Talvez fosse a proximidade da morte, talvez a influência de livros que lia em sua biblioteca, talvez as conversas com abolicionistas que frequentavam os mesmos círculos sociais. Começou a ver os escravizados de sua casa não como objetos, mas como pessoas com histórias, sonhos, dores. Marcelina foi a primeira que ele realmente enxergou.
observa administrar a casa com eficiência que rivalizava qualquer gerente de suas propriedades. Percebia como outros escravizados a respeitavam, como ela resolvia conflitos, como tomava decisões sensatas. Um dia, perguntou-lhe diretamente: “Se fosse livre, o que faria?” Marcelina ficou em silêncio por longo tempo, antes de responder que talvez administrasse uma pensão, um negócio próprio.
A resposta ficou ecoando na mente do coronel. Com felicidade, a conexão foi diferente. O coronel descobriu por acaso que ela sabia ler. Encontrou-a numa tarde lendo o jornal velho na cozinha, achando que estava sozinha. Ao invés de puni-la, começou a deixar jornais propositalmente em lugares onde ela pudesse pegá-los. Depois, livros.
Observa de longe como felicidade devorava cada palavra, como seus olhos brilhavam ao descobrir mundos além daquelas paredes. Sebastiana conquistou respeito diferente. Seu talento na cozinha era innegável, mas o coronel percebeu que havia mais. Ela guardava receitas na memória com precisão fotográfica, improvisava com ingredientes quando necessário, entendia a química dos alimentos de forma intuitiva.
“Um desperdício de potencial humano”, pensava ele, mantê-la presa apenas cozinhando para um velho solitário. Nos últimos dois anos de vida, o coronel começou a chamar as três mulheres para conversas noturnas em seu escritório. Inicialmente sobre assuntos práticos da casa, depois sobre política, economia, até filosofia. Marcelina opinava sobre investimentos.
Felicidade comentava notícias dos jornais. Sebastiana descrevia viagens culinárias imaginárias. Eram conversas impossíveis em sociedade escravocrata, senhor tratando escravizadas quase como iguais. O coronel descobriu que Marcelina havia sido separada de seus três filhos quando foi vendida.
Eles trabalhavam em fazenda no Vale do Paraíba e ela não sabia se ainda estavam vivos. Felicidade nunca mais viu a mãe após serem separadas no mercado de escravos. Sebastiana tinha irmão que fugiu para quilombo anos antes e ela carregava a culpa de não ter tido coragem de fugir com ele. Essas histórias pesaram no coronel.
Ele havia participado ativamente de sistema que destruía famílias, que transformava pessoas e mercadoria, que desperdiçava talentos por causa da cor da pele, não podia desfazer o passado, não podia ressuscitar os mortos ou reunir famílias separadas, mas podia fazer algo pelo futuro daquelas três mulheres que tornaram seus últimos anos menos solitários.
A decisão de incluí-las no testamento não foi repentina. O coronel passou meses considerando as consequências. sabia que causaria escândalo, que seus parentes ficariam furiosos, que a sociedade o condenaria póstumamente. Mas aos 73 anos, perto da morte, essas preocupações pareciam pequenas diante da chance de fazer algo significativo.
Chamou o tabelião Henrique Barbosa em segredo. Ditou o testamento sem testemunhas da família, apenas profissionais jurídicos. Dois dias antes de morrer, libertou formalmente as três mulheres, cumprindo requisito legal para que pudessem herdar. Não disse nada a ela sobre o testamento.
Queria que fosse surpresa e talvez temesse que tentassem dissuadi-lo. Na noite antes de sua morte, o coronel escreveu carta endereçada às três mulheres. Guardou-a em gaveta trancada de seu escritório, com instruções para que fosse entregue apenas após a leitura do testamento. Nessa carta, explicava seus motivos, pedia desculpas pelo que não podia mudar, expressava esperança de que elas usassem a herança para construir vidas melhores. era o mais próximo de redenção que um homem como ele podia alcançar.
O processo judicial movido por dona Amélia Guimarães e os demais parentes do coronel iniciou-se formalmente em junho de 1881, três meses após a morte dele. O advogado da família, Joaquim Nabuco de Araújo Filho, era um dos juristas mais respeitados do império.
Sua estratégia era tripla: questionar a sanidade mental do coronel, alegar que as três mulheres exerceram influência indevida sobre o velho e argumentar que o testamento violava princípios fundamentais da ordem social. A petição inicial tinha 120 páginas, citava dezenas de precedentes legais, invocava códigos civis portugueses ainda em vigor no Brasil, apelava para conceitos de moral e bons costumes.
O argumento central era que escravizados, mesmo libertos, não podiam ser equiparados a herdeiros legítimos. Permitir tal coisa seria abrir precedente perigoso que ameaçaria toda a estrutura da propriedade no país. Francisco de Paula, advogado das três mulheres, tinha poucos recursos em comparação. Seu escritório era sala modesta na rua da Quitanda. Não podia contratar investigadores particulares ou consultores jurídicos, como a outra parte fazia, mas tinha algo mais valioso, convicção absoluta de que o direito estava do seu lado e conhecimento profundo da legislação brasileira sobre sucessões. A defesa de Francisco era direta. O testamento foi redigido de forma legal. O coronel
estava em plena capacidade mental, conforme atestado por dois médicos. As mulheres foram formalmente libertadas antes de serem nomeadas herdeiras. Não havia base legal para anular o documento. Quanto aos argumentos morais da outra parte, Francisco contraargumentava que moralidade não podia sobrepor-se à lei explícita.
O juiz responsável pelo caso, desembargador Alberto Moreira da Silva, era magistrado conhecido por interpretações conservadoras. Sua nomeação para o caso não foi acidental. Dona Amélia tinha conexões políticas e usou as para garantir juiz simpático a sua causa.
Francisco percebeu imediatamente que batalha seria ainda mais difícil do que imaginava. As audiências começaram em agosto. O tribunal ficava no Palácio da Relação, edifício imponente na Praça 15 de novembro. Nos dias de audiência, a sala ficava lotada. Elite carioca comparecia como se fosse teatro, comentando cada testemunho, cada argumento.
Marcelina, Felicidade Sebastiana sentavam-se no fundo, vestidas com suas melhores roupas, suportando olhares hostis e comentários maldosos. A família Guimarães apresentou 17 testemunhas, parentes distantes que afirmavam ter notado mudanças no comportamento do coronel nos últimos anos. um antigo sócio de negócios que alegava que o velho estava tomando decisões comerciais erráticas.
Até o médico particular do coronel foi convencido a testemunhar que seu paciente demonstrava sinais de senilidade nos últimos meses. Se esta história está te impactando, inscreva-se no canal agora. Histórias reais como esta merecem ser preservadas e compartilhadas. Francisco desmontava cada testemunho metodicamente.
Provava que os parentes tinham interesse financeiro direto em anular o testamento. Mostrava documentos comerciais assinados pelo coronel Semanas antes de morrer, demonstrando clareza mental absoluta. Apresentava registros médicos contraditórios sobre a suposta senilidade, mas sabia que estava lutando contra correnteza poderosa de preconceito e interesse de classe.
O momento mais dramático do julgamento ocorreu quando Francisco solicitou que Marcelina testemunhasse. Era estratégia arriscada. Mulheres negras não tinham credibilidade em tribunais da época. Mas Francisco acreditava que se o juiz e a audiência pudessem ouvir a inteligência e dignidade de Marcelina em primeira mão, talvez mudassem de opinião.
Marcelina subiu ao estrado com postura ereta, respondeu as perguntas com voz firme, sem demonstrar nervosismo. Descreveu sua relação com o coronel como profissional e respeitosa. Negou veementemente ter exercido qualquer influência sobre ele. afirmou que não sabia do testamento até após a morte dele e que ficou tão surpresa quanto todos os outros. O advogado da família Guimarães tentou desestabilizá-la durante interrogatório cruzado.
Fez perguntas insinuando manipulação, sedução, até feitiçaria. Marcelina respondeu cada pergunta com paciência e clareza, recusando-se a ser provocada. Quando ele perguntou se ela não achava antinatural que uma ex-escrava herdse fortuna, Marcelina olhou diretamente nos olhos e respondeu que o antinatural era um ser humano possuir outro. A resposta causou tumulto na sala.
O juiz pediu ordem. Dona Amélia levantou-se indignada, exigindo que Marcelina fosse acusada de desacato. Mas Francisco argumentou que sua cliente apenas expressou opinião pessoal quando diretamente questionada. O juiz, visivelmente desconfortável, decidiu encerrar o testemunho naquele ponto.
Nos corredores do tribunal, após audiência, um grupo de mulheres negras aguardava. Eram membros da Irmandade do Rosário e outras organizações de libertos. cercaram Marcelina em silêncio. Expressões de solidariedade e admiração. Felicidade e Sebastiana também estavam ali. As três mulheres, por um momento, permitiram-se sentir que não estavam completamente sozinhas naquela batalha.
Enquanto o julgamento se arrastava pelos meses seguintes, o Rio de Janeiro tornava-se cada vez mais polarizado. O caso deixou de ser apenas disputa de herança para se transformar em símbolo de debates maiores sobre abolição, propriedade e ordem social.
Cada desenvolvimento no tribunal era reportado detalhadamente pelos jornais, analisado em cafés, discutido em salões. José do Patrocínio intensificou sua campanha através da Gazeta da Tarde. Publicava artigos diários defendendo o direito das três mulheres à herança. Argumentava que se a lei permitia libertar escravos e nomeá-los herdeiros, então o testamento era absolutamente legal. Qualquer tentativa de anulá-lo seria regressão jurídica motivada apenas por preconceito racial.
Outros jornais, especialmente os ligados a setores conservadores, atacavam ferozmente. O Jornal do Comércio publicou editorial afirmando que o testamento representava ameaça existencial à propriedade privada. Seis escravos podiam herdar fortunas imensas, argumentava: “Então, toda estrutura de transmissão de riqueza familiar estaria em risco.
” A ordem social dependia de manter hierarquias claras. A Igreja Católica também se dividiu. Alguns padres pregavam sermões defendendo as três mulheres, citando princípios cristãos de igualdade perante Deus. Outros denunciavam o testamento como pecado contra a ordem natural estabelecida pela providência.
A arquidiocese do Rio de Janeiro manteve-se oficialmente neutra, mas nos bastidores havia pressões intensas de ambos os lados. Em setembro de 1881, pela primeira vez, o conflito transbordou dos tribunais para as ruas. Abolicionistas organizaram manifestação em frente ao Palácio da Relação, exigindo que o testamento fosse respeitado.
Cerca de 300 pessoas compareceram, maioria negra e mestiça, mas também alguns brancos progressistas. Carregavam cartazes, cantavam hinos de liberdade, bloquearam a rua por 2 horas. A polícia dispersou a manifestação com violência. Cacetetes bateram em costas e cabeças.
17 pessoas foram presas, incluindo dois jornalistas que cobriam o evento. José do Patrocínio, que liderava o protesto, escapou por pouco da prisão ao refugiar-se na redação de seu jornal. O episódio gerou mais indignação e mais polarização. A elite carioca respondeu com suas próprias demonstrações.
Dona Amélia organizou o evento no Teatro São Pedro de Alcântara, reunindo mais de 500 pessoas da alta sociedade. Palestrantes denunciavam o testamento como ataque à família tradicional e à propriedade. Coletaram assinaturas em petição ao imperador Dom Pedro II, pedindo intervenção imperial para restaurar a ordem. Marcelina, Felicidade e Sebastiana viviam intenção constante. O casarão onde moravam tornou-se alvo de ataques quase semanais.
Pedras quebradas contra janelas, fezes jogadas no portão, ameaças de morte pintadas nos muros. A polícia fazia pouco para protegê-las. Algumas vezes, policiais chegavam a sugerir que elas abandonassem voluntariamente a herança para sua própria segurança. A irmandade do Rosário organizou o sistema de proteção informal. Homens negros faziam turnos de vigilância em frente ao casarão durante a noite.
Mulheres da comunidade traziam comida, garantindo que as três não precisassem sair sozinhas para o mercado. Crianças serviam como mensageiros, levando recados entre o casarão e o escritório do advogado Francisco de Paula. Felicidade, a mais jovem das três, começou a frequentar reuniões de sociedades abolicionistas que cresciam na cidade.
Ali encontrou comunidade de jovens negros e brancos comprometidos com abolição imediata. Ouviu discursos de André Rebolsas, engenheiro negro que projetava ferrovias. Conheceu Luía Maim, lendária líder de revoltas de escravos décadas antes, agora velha senhora que ainda lutava. Essas experiências transformaram felicidade. Pela primeira vez em sua vida, não era apenas ex-escrava lutando por sobrevivência pessoal.
Era parte de movimento maior histórico. Começou a ver a herança não apenas como dinheiro, mas como recurso que poderia ser usado para libertar outros, para financiar fugas de escravizados, para apoiar causas abolicionistas. Compartilhou essas ideias com Marcelina e Sebastiana.
Marcelina, mais pragmática, aconselhava cautela. Primeiro precisavam garantir a herança, depois poderiam decidir como usá-la. Envolver-se abertamente em atividades abolicionistas radicais poderia prejudicar o caso no tribunal. O juiz já estava predisposto contra elas. Dar-lhe mais munição seria insensatez. Felicidade aceitou o conselho, mas a chama de ativismo havia sido acesa.
Sebastiana, sempre a mais reservada, processava tudo em silêncio. Continuava cozinhando, atividade que sempre a acalmava, mas agora cozinhava também para os vigilantes que protegiam o casarão, para os membros da irmandade que as apoiavam. Cada prato era seu modo de agradecer, de contribuir para a luta à sua maneira.
Seus quitutes tornaram-se famosos na comunidade negra do centro do Rio. Em outubro, o tribunal convocou novas audiências. O juiz anunciaria a decisão preliminar sobre a admissibilidade das provas apresentadas. Francisco de Paula preparou-se intensamente, sabendo que esta decisão poderia efetivamente encerrar o caso. Se o juiz rejeitasse as provas da defesa, não haveria chance de vitória.
As três mulheres compareceram vestidas de preto, cor de luto, mas também de seriedade. Estavam prontas para ouvir seu destino. Durante preparação para as novas audiências, Francisco de Paula lembrou-se da menção na petição inicial sobre pertences pessoais do coronel que permaneciam no casarão. decidiu investigar mais detalhadamente.
Com autorização judicial, acompanhado por oficial de justiça, revirou o escritório particularo. Foi então que encontrou na gaveta trancada da escrivaninha a carta. O envelope amarelado trazia apenas três palavras escritas em caligrafia trêmula para minhas herdeiras. Francisco abriu com cuidado, ciente de que qualquer documento novo poderia mudar drasticamente o rumo do caso.
Leu rapidamente, depois mais devagar, sentindo o peso de cada palavra. pediu ao oficial de justiça que testemunhasse o encontro, solicitou que a carta fosse imediatamente anexada aos autos do processo. A carta tinha quatro páginas escritas à mão. O coronel começava pedindo perdão, não pelo testamento, mas por tudo que veio antes, por tê-las comprado como se fossem objetos, por tê-las mantido escravizadas durante anos, por ter participado de sistema que considerava agora monstruoso. As palavras eram diretas, sem floreios literários. escritas claramente por
homem confrontando seus próprios pecados. Depois das desculpas, o coronel explicava sua decisão. Detalhava como as conversas noturnas com as três mulheres haviam mudado sua perspectiva. Descrevia talentos específicos que via em cada uma, a capacidade administrativa de Marcelina, o olhar artístico de felicidade, o gênio culinário de Sebastiana. afirmava que desperdiçar tais potenciais humanos era pecado contra Deus e contra a razão.
A parte mais impactante vinha nos dois últimos parágrafos. O coronel revelava que havia tentado anos antes negociar a compra dos filhos de Marcelina para reuni-los com ela. O proprietário recusou, exigindo preço absurdamente alto, sabendo que Marcelina valorizaria a reunião familiar.
O coronel não tinha como pagar aquele valor na época sem levantar suspeitas sobre seus motivos. Quanto a mãe de felicidade, o coronel a localizou. Estava trabalhando em fazenda em Campos dos Goitacazes. Escreveu ao proprietário, oferecendo comprá-la para trazê-la ao rio, mas recebeu resposta informando que a mulher havia falecido de pneumonia dois anos antes.
O coronel nunca contou isso à felicidade, temendo causar-lhe dor. Agora, através da carta, ela descobria que sua mãe morrera enquanto ela ainda sonhava com reencontro impossível. Para Sebastiana, o coronel rastreou o irmão. Descobriu que ele não estava em quilombo, mas havia sido capturado e vendido para fazenda em Minas Gerais. O coronel chegou a viajar até lá, oferecendo preço generoso pela compra, mas o proprietário recusou por princípio.
Não negociava com quem tentava libertar quilombolas, mesmo capturados. Impacto da descoberta. Francisco levou a carta pessoalmente ao casarão, reuniu as três mulheres na sala principal e leu documento em voz alta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcelina ficou de pé, imóvel, processando a revelação de que o coronel havia tentado trazer seus filhos de volta.
Felicidade cobriu o rosto com as mãos ao saber do destino da mãe. Sebastiana simplesmente fechou os olhos, lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. A carta mudou algo fundamental na percepção das três mulheres sobre o homem que as havia libertado. Ele não era santo.
Havia sido senhor de escravos durante toda a vida adulta, participado ativamente de sistema horrendo. Mas nos últimos anos, dentro dos limites de sua posição e época, tentará fazer algo. tentará corrigir, mesmo que minimamente, algumas das injustiças que ajudar a perpetuar. Francisco reconheceu imediatamente o valor jurídico do documento. A carta demonstrava planejamento consciente, lucidez mental, motivações claras, destruía o argumento de senilidade usado pela família Guimarães.
Mais que isso, humanizava o coronel, mostrava que o testamento não foi capricho de velho senil, mas decisão moral profundamente considerada. Na audiência seguinte, Francisco apresentou a carta como nova evidência. O advogado da família Guimarães protestou veementemente, alegando que o documento encontrado tão tarde era suspeito, possivelmente forjado, mas o oficial de justiça testemunhou sobre as circunstâncias do achado. Peritos grafológicos confirmaram a caligrafia do coronel.
O juiz aceitou a carta como evidência legítima. Dona Amélia saiu da audiência pálida. A carta não apenas fortalecia o caso das três mulheres, mas expunha publicamente tentativas de seu tio de comprar escravos para libertá-las. Ato que alguns consideravam traição à classe senhorial. Ela percebeu que a batalha estava ficando mais difícil.
Seu advogado, porém, prometeu continuar lutando. Ainda havia recursos legais, ainda havia possibilidades. Naquela noite, no casarão, as três mulheres se reuniram no escritório onde a carta havia sido escondida. Marcelina sentou-se na cadeira que fora do coronel. Felicidade examinou os livros na estante, reconhecendo alguns que havia lido secretamente. Sebastiana ficou na porta observando.
Pela primeira vez, sentiram que aquela casa não era apenas prisão que as havia confinado, mas também testemunha de transformação do coronel e delas próprias. Janeiro de 1882, quase um ano após a morte do coronel, o desembargador Alberto Moreira da Silva finalmente anunciou que proferiria sentença. A notícia espalhou-se rapidamente.
No dia marcado, o Palácio da Relação estava lotado uma hora antes do horário. Elite carioca, abolicionistas, jornalistas, curiosos, todos queriam testemunhar o desfecho daquele caso que havia dividido a cidade. Marcelina, Felicidade Sebastiana chegaram acompanhadas por Francisco de Paula e membros da Irmandade do Rosário.
Sentaram-se no mesmo lugar de sempre, no fundo da sala, mas desta vez havia diferença. A comunidade negra do rio compareceu em massa, ocupando todos os espaços disponíveis. Mulheres negras com seus melhores vestidos, homens negros de terno, crianças mestiças que não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sentiam a importância do momento.
Do outro lado da sala, a família Guimarães também veio em peso. Dona Amélia sentou-se na primeira fila, rodeada por seus 16 parentes, que também eram partes no processo. Seus rostos expressavam confiança. Haviam gasto fortuna em advogados, mobilizado conexões políticas, feito tudo ao seu alcance para garantir que o testamento fosse anulado. Acreditavam que a ordem natural das coisas seria restaurada.
O desembargador Alberto Moreira entrou na sala exatamente às 2 horas da tarde. Todos se levantaram. Ele sentou-se na cadeira elevada do tribunal, organizou alguns papéis, limpou a garganta. O silêncio era absoluto. Até o ruído das ruas parecia ter cessado, como se a cidade inteira prendesse a respiração aguardando aquela decisão. A sentença tinha 23 páginas.
O juiz começou revisando os fatos do caso, resumindo os argumentos de ambas as partes. Sua voz era neutra, professoral, dando poucas indicações de qual seria sua decisão. Francisco de Paula apertava os punhos embaixo da mesa. As três mulheres permaneciam imóveis, rosto sem expressão, anos de escravidão, havendo-as ensinado a esconder emoções.
O desembargador então passou a analisar a questão da capacidade mental do coronel, citou os laudos médicos contraditórios. as testemunhas de ambos os lados, os documentos comerciais que demonstravam lucidez, concluiu que não havia provas suficientes de incapacidade mental. O coronel estava até os últimos dias em pleno domínio de suas faculdades.
Quanto à alegação de influência indevida, o juiz foi ainda mais direto. Apontou que não houve uma única testemunha que presenciasse qualquer ato de manipulação. A relação entre o coronel e as três mulheres era, pelos padrões da época, apropriada. Elas serviam, ele comandava. O fato de ele valorizá-las e respeitá-las não constituía influência indevida.
A carta encontrada demonstrava a decisão consciente e refletida. Então veio o momento crucial. O desembargador Alberto Moreira declarou que do ponto de vista estritamente legal, o testamento era válido. Fora redigido de acordo com todas as formalidades exigidas. As beneficiárias eram livres no momento em que foram nomeadas herdeiras.
Não havia impedimento legal para que exescravizados recebessem heranças. A sala explodiu em reações contrastantes. Metade gritava de alegria, outra metade de indignação. O juiz bateu o martelo exigindo ordem. Levou vários minutos para o silêncio retornar. Marcelina, Felicidade e Sebastiana permaneciam sentadas ainda processando o que haviam ouvido. Vitória.
Contra todas as probabilidades, haviam vencido, mas o desembargador ainda não havia terminado. Levantou a mão pedindo atenção total. explicou que, embora o testamento fosse legalmente válido, ele reconhecia as preocupações sociais levantadas pela família Guimarães.
Portanto, determinava que a herança fosse dividida de forma diferente da especificada pelo coronel. O impacto dessas palavras foi como soco físico. Francisco de Paula levantou-se protestando. As três mulheres finalmente mostraram emoção, medo, confusão, desespero. A vitória estava sendo roubada no último segundo. O juiz explicou sua decisão. As três mulheres receberiam cada uma 30 contos de réis em dinheiro, quantia significativa suficiente para viver confortavelmente.
Receberiam também propriedades urbanas menores. Mas a fazenda de café, os terrenos mais valiosos, as ações das companhias, essas seriam redistribuídas entre os parentes do coronel. A justificativa era preservar unidade de patrimônio familiar e evitar precedente social perigoso. Era vitória, mas amarga.
As três mulheres receberiam algo, seriam financeiramente independentes, escapariam da pobreza que aguardava a maioria dos libertos, mas seria apenas fração do que o coronel desejara para elas. Francisco de Paula anunciou imediatamente que apelaria. A família Guimarães, mesmo recebendo maioria da herança, também anunciou que apelaria querendo tudo. Fora do tribunal, duas multidões se formaram. Abolicionistas cercaram as três mulheres, celebrando a vitória parcial como triunfo moral.
José do Patrocínio discursou ali mesmo na rua, proclamando que a decisão, mesmo imperfeita, estabelecia precedente fundamental. exescravizados tinham direito legal à heranças. A elite conservadora, por sua vez, reuniu-se em cafés próximos, aliviada que, pelo menos parte do património familiar havia sido preservada.
Os processos de apelação se arrastaram por mais do anos. Em instâncias superiores, juízes revisaram todos os aspectos do caso. A família Guimarães tentou reverter completamente a sentença. Francisco de Paula lutou para garantir que as três mulheres recebessem tudo que o coronel havia deixado. No final, a decisão do desembargador Alberto Moreira foi mantida em todos seus termos.
Em março de 1884, 3 anos após a morte do coronel Marcelina, Felicidade Sebastiana, finalmente receberam suas heranças. 30 contos de réis cada uma, mais três casas no bairro da Glória. Não era fortuna completa, mas era mais dinheiro do que qualquer exescrava no Brasil jamais havia possuído.
Era liberdade em forma tanguível, capacidade de escolher seus próprios caminhos, de controlar seus próprios destinos. Marcelina, agora com 50 anos, usou parte do dinheiro para procurar seus filhos, contratou investigadores, seguiu pistas que levavam a diferentes partes do país. Descobriu que um havia morrido ainda criança, vítima de maus tratos na fazenda. O segundo conseguirá fugir anos antes, estava vivendo em quilombo na Bahia. Ela viajou até lá e reencontrou.
Momento de emoção indescritível. O terceiro nunca foi localizado. Com o restante de sua herança, Marcelina abriu pensão para mulheres negras recém-li libertas na rua do lavradio. Oferecia quartos baratos, comida e, principalmente, ensinava habilidades administrativas.
Queria que outras mulheres tivessem as ferramentas que ela adquirira para sobreviver e prosperar. A pensão tornou-se referência abrigo seguro em cidade hostil. Felicidade aos 32 anos, tornou-se figura central no movimento abolicionista. Usou parte de sua herança para financiar sociedades libertadoras que cresciam na cidade, ajudando a organizar fugas de escravizados, comprando alforrias quando possível.
Sua casa na glória virou ponto de encontro para ativistas. Ali se planejavam ações, se escondiam fugitivos, se imprimiam panfletos. Aprendeu a escrever melhor e começou a publicar textos em jornais abolicionistas. Assinava com pseudônimo para proteger-se de retaliações, mas suas palavras tinham impacto.
Descrevia a escravidão não como conceito abstrato, mas como experiência vivida. Contava histórias de separações familiares, de violências cotidianas, de sonhos roubados. Seus artigos foram republicados em jornais de outras províncias. Em 1885, Felicidade conheceu André, carpinteiro liberto, que trabalhava no Porto. Casaram-se em cerimônia na igreja de Nossa Senhora do Rosário, com Marcelina e Sebastiana como testemunhas.
Foi primeiro casamento que celebraram não como escravas, mas como mulheres livres, donas de suas escolhas. Tiveram três filhos, todos nascidos livres, todos educados em escolas, que começavam a aceitar crianças negras. Sebastiana tomou o caminho diferente. Aos 33 anos, com herança garantida, abriu pequeno restaurante na praça 11.
Não o estabelecimento luxuoso para a elite, mas lugar acolhedor que servia comida afro-brasileira, muquecas, vatapaz, acarajéis, receitas que guardava na memória desde a infância. O restaurante tornou-se ponto de encontro da comunidade negra, espaço onde libertos e escravos de ganho podiam comer dignamente. Sebastiana nunca se casou. Algumas pessoas especulavam sobre os motivos, mas ela simplesmente não oferecia explicações.
Dedicou-se ao restaurante silenciosamente a outra missão. Todo domingo preparava marmitas que distribuía gratuitamente em cortiços da região portuária. Alimentava dezenas de pessoas, crianças famintas, idosos abandonados, mulheres grávidas sem recursos. Manteve contato próximo com Marcelina e Felicidade. As três se encontravam mensalmente na casa de uma delas.
Jantares onde relembravam o passado, mas principalmente planejavam o futuro. Discutiam como usar seus recursos para ajudar outros, como navegar sociedade que ainda as via com desconfiança, como proteger conquistas tão duramente obtidas. Marcelina viveu até 1901, morrendo aos 67 anos. Em seu leito de morte, estava cercada pelo filho reencontrado por dezenas de mulheres que haviam passado por sua pensão, por felicidade Sebastiana.
Sua última vontade foi que a pensão continuasse funcionando. Ela deixou imóvel e fundos para manutenção à irmandade do Rosário, que manteve o lugar aberto até os anos 1920. Felicidade viveu mais tempo, até 1918, testemunhando transformações profundas no país. Viu a abolição da escravidão, a proclamação da República as primeiras décadas do século XX.
continuou ativa no movimento negro, agora lutando não mais contra escravidão, mas contra discriminação e exclusão que persistiam. Seus filhos tornaram-se professores, comerciantes, profissionais, primeira geração de negros livres com acesso real a oportunidades. Sebastiana foi a última a morrer em 1923, aos 72 anos.
Seu restaurante havia se expandido, agora gerido por sobrinhas que ela adotará informalmente no dia de seu funeral. Mais de 500 pessoas compareceram, fechando a praça 11. Eram pessoas que ela alimentara, ajudara, acolhera durante décadas. O cortejo seguiu até o cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, onde foi enterrado ao lado de Marcelina e Felicidade, conforme haviam combinado anos antes. No cemitério, onde as três estão enterradas, existe lápide simples.
Não menciona herança ou batalha judicial, apenas três nomes e três datas. Mas quem conhece a história, quem entende o contexto, vê naquela pedra algo mais. Testemunho de resistência, prova de que mesmo em tempos de opressão extrema, havia pessoas que lutavam por futuro diferente. O Rio de Janeiro de hoje não é cidade que elas conheceram.
A escravidão acabou, novas leis foram aprovadas, estruturas formais mudaram, mas desigualdades persistem. Racismo continua. Legados de séculos de escravidão ainda moldam quem tem acesso a recursos, oportunidades, dignidade. A luta que Marcelina, felicidade e Sebastiana travaram não terminou, apenas assumiu novas formas.
Esta história não oferece respostas fáceis ou finais felizes artificiais. oferece algo mais valioso, verdade sobre como mudança social realmente acontece lentamente, parcialmente, através de coragem de indivíduos específicos que, contra probabilidades esmagadoras, insistem em sua humanidade e dignidade através de pequenas vitórias que acumulam, geração após geração, em direção à justiça que permanece sempre incompleta, mas ligeiramente menos distante. Se você ouviu esta história até o final, você agora carrega essa memória. Carrega
conhecimento sobre três mulheres que a história tentou esquecer. carrega responsabilidade de não deixar que sejam esquecidas novamente. Porque enquanto suas histórias forem lembradas, enquanto suas lutas forem reconhecidas, elas continuam vencendo, continuam provando que mesmo poder absoluto não pode extinguir completamente espírito humano que insiste em liberdade.
O testamento que arrasou o Rio de Janeiro em 1881 não foi apenas documento legal, foi declaração de que outra realidade era possível. Foi reconhecimento de que pessoas escravizadas eram pessoas. Foi precursor de sociedade mais justa que ainda estamos tentando construir 144 anos depois. Marcelina, Felicidade e Sebastiana não viveram para ver Brasil verdadeiramente igualitário.
Nós também não vivemos nesse Brasil, mas elas provaram que movimento em direção à igualdade é possível, que batalhas podem ser vencidas, que justiça, mesmo imperfeita e parcial, vale a luta. Esta é a história delas. Esta é nossa história. Enquanto continuarmos contando-a, honrando-a, aprendendo com ela, o legado de três mulheres extraordinárias permanece vivo, inspirando novas gerações a continuar a luta inacabada por dignidade, igualdade e justiça. S.