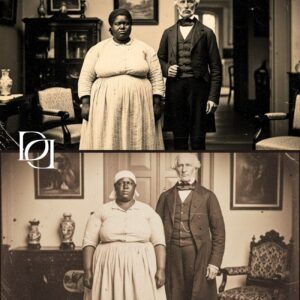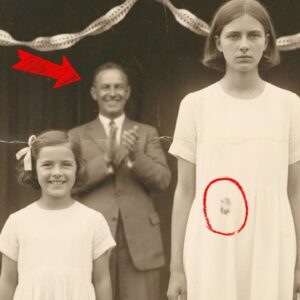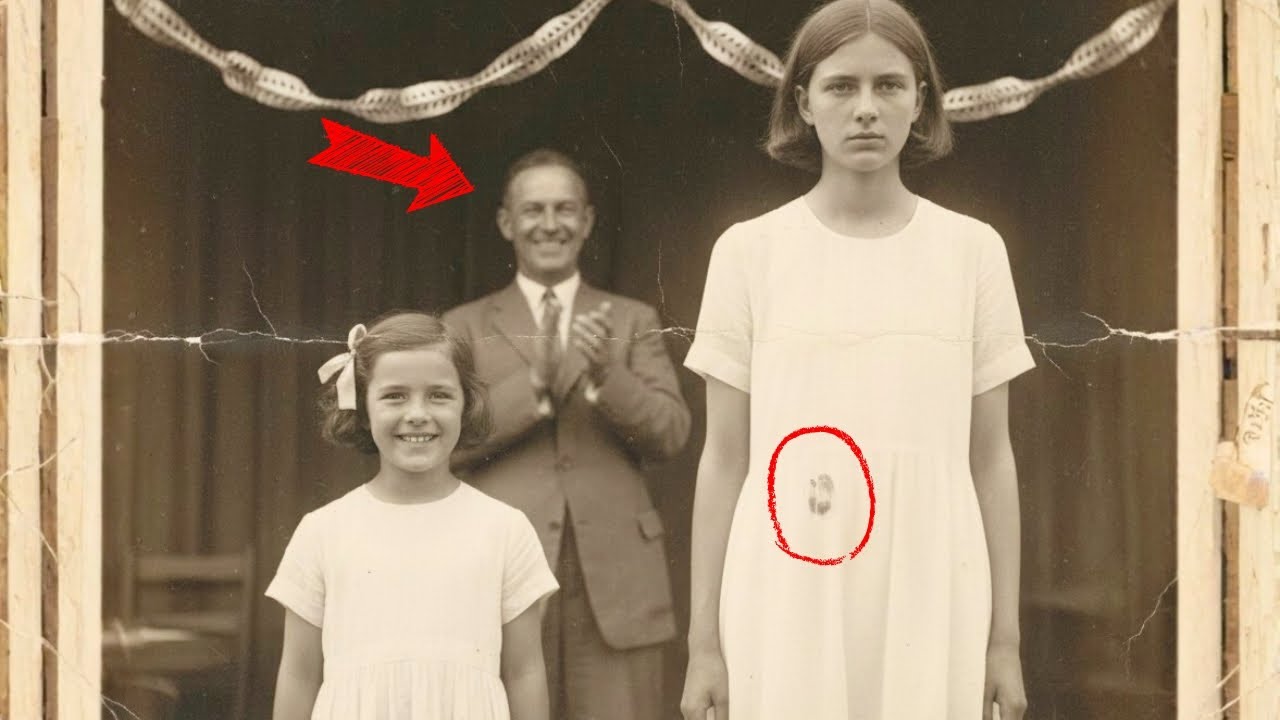“Se conseguires domar este garanhão, cowboy, a minha filha mais bonita é tua.”
“Se conseguires domar este garanhão, cowboy, a minha filha é tua”, sorriu o xerife. Mas quando chegou a hora, empurraram a rapariga obesa para a frente. A praça da cidade de Dusty Creek estava cheia naquela manhã de sábado. Mulheres nos seus melhores vestidos, homens com botas polidas, crianças a correr entre as carroças.
Era o dia da feira das noivas, o único dia do ano em que homens solteiros podiam reclamar uma noiva se tivessem os meios para a sustentar. O xerife Hargrove estava na plataforma de madeira, peito estufado como um galo. Atrás dele estavam as suas três filhas. Amelia, a mais velha, vestia um vestido cor-de-rosa que captava todos os olhares.
O seu cabelo escuro caía pelas costas em caracóis perfeitos. Ao lado dela estavam Margaret e Violet, igualmente deslumbrantes em seda azul e amarela. A multidão murmurava com aprovação. “As raparigas mais bonitas em três condados”, sussurrou alguém. Os homens alinhavam-se, cada um esperando uma oportunidade. Cada um apresentando o seu valor ao xerife. Então Ethan Cole deu um passo em frente.
30 anos, alto, ombros largos, cabelo castanho-dourado apanhado num pequeno rabo-de-cavalo, uma barba pequena, bem aparada, mas as suas roupas estavam gastas, as botas empoeiradas do caminho. Ele era um forasteiro. A multidão calou-se. O xerife Hargrove olhou-o de cima a baixo, depois sorriu com desdém.
“E quem poderias tu ser, estranho?”
Ethan encontrou o olhar dele sem pestanejar.
“O meu nome é Ethan Cole. Tenho terras a 20 milhas a norte. Um rancho pequeno, mas é meu. Pela sua lei, xerife, qualquer homem que possa providenciar sustento tem o direito de pedir uma noiva.”
Gargalhadas ondularam pela multidão.
“Terras?”, gritou alguém. “Provavelmente uma barraca e duas galinhas.” Mais risos.
A mandíbula de Ethan apertou-se, mas ele não recuou.
“Tenho habilidade também. Sei domar cavalos, trabalhar com gado, construir o que precisa de ser construído.”
O xerife cruzou os braços.
“Habilidade, dizes tu?”
“Sim, senhor.”
“Então prova-o.” O sorriso do xerife alargou-se, e Ethan sentiu a armadilha a fechar-se. “Tenho um garanhão, preto como a meia-noite, mau como o próprio diabo.”
“Nenhum homem foi capaz de o domar. Três treinadores tentaram. Dois foram pisoteados. Um fugiu durante a noite, com medo pela própria vida.” A multidão inclinou-se, sentindo o drama. “Tu domas aquele cavalo, cowboy, e eu dou-te a minha filha.” Ele gesticulou em direção a Amelia. O coração de Ethan batia forte.
Ele olhou para ela, o vestido cor-de-rosa, os caracóis perfeitos, a forma como ela se portava como se fosse dona do mundo. Ela era tudo o que ele sempre quisera, tudo o que pensava que nunca poderia ter.
“Eu aceito.”
O sorriso do xerife tornou-se vicioso.
“Mas tens 3 meses. Chegado o outono, veremos se ainda estás a andar.”
A multidão explodiu em vivas e gargalhadas. Ethan não se importou. Olhou para lá do xerife, para Amelia. Ela estava lá, bonita e intocável, abanando-se preguiçosamente com um leque. Nem sequer olhou na direção dele. Mas ele ganharia aquele olhar. Ele provaria o seu valor. Tinha de o fazer. Esta era a sua única oportunidade.
2 dias depois, Ethan chegou ao Rancho Hargrove. A casa era grande, caiada de branco, rodeada por pastagens cercadas. Atrás dela ficavam os estábulos, e atrás dos estábulos um curral separado feito de madeira reforçada. Dentro desse curral estava o garanhão. Ethan ouviu-o antes de o ver. O trovão de cascos, o estalar de madeira, um grito que soava quase humano. Ele aproximou-se. O cavalo era enorme. Pelo preto a brilhar ao sol. Olhos selvagens de fúria.
Empinou-se, batendo com os cascos contra a cerca com tanta força que o chão tremeu. O estômago de Ethan apertou-se. Este não era apenas um cavalo selvagem. Este era um assassino.
“És o tolo a tentar domá-lo?”
Ethan virou-se. Uma jovem estava parada a alguns metros de distância a segurar um balde de ração. 20 anos, rosto redondo com cabelo castanho-dourado pelos ombros apanhado frouxamente para trás.
O suor humedecia-lhe a testa. Ela era pesada, notavelmente, mas os seus olhos eram aguçados e ela não parecia ter medo.
“Sou o Ethan Cole”, disse ele.
“Eu sei quem tu és. A cidade inteira fala do idiota que aceitou a aposta do Papá.”
Ela passou por ele em direção ao curral. O garanhão investiu contra a cerca, bufando e dando coices. Ela não se encolheu.
Em vez disso, pousou o balde mesmo fora da cerca e recuou.
“Não fiques muito perto”, disse ela calmamente. “Ele odeia movimentos bruscos.”
Ethan observou enquanto o cavalo circulava, narinas dilatadas, mas aproximava-se lentamente do balde.
“Tu alimentas-o todos os dias.”
“O Papá já não confia nos trabalhadores do rancho perto dele.”
“E tu não tens medo?”
Ela olhou para ele e por um momento algo cintilou nos seus olhos. Dor talvez, ou resignação.
“Ele está apenas assustado”, disse ela. “Coisas assustadas atacam.”
O garanhão deu um coice na cerca outra vez e Ethan recuou instintivamente. A mulher não.
“És a filha do xerife”, disse Ethan, apercebendo-se.
Ela assentiu. “Clara Hargrove.”
Ele olhou para ela mais de perto agora. Ela não estava vestida como Amelia ou as outras. Nenhum vestido de seda, apenas um vestido simples de algodão manchado de pó e suor.
“Porque estás aqui fora?”, perguntou ele. “Não devias estar lá dentro com as tuas irmãs?”
A expressão dela endureceu.
“As minhas irmãs não trabalham. Eu trabalho.”
Ela pegou no balde vazio e começou a caminhar de volta para a casa. Ethan chamou-a.
“Espera, tu conheces este cavalo? Preciso da tua ajuda.”
Ela parou, mas não se virou.
“Tu fizeste a aposta, cowboy. Não eu.”
Depois foi-se embora. Ethan ficou sozinho, a olhar para o garanhão preto. Ele olhou de volta, olhos cheios de raiva. 3 meses de repente pareciam uma eternidade, mas ele não tinha escolha. Amelia valia a pena. Tinha de valer. Ethan aparecia no rancho todas as manhãs antes do nascer do sol. A primeira semana foi brutal.
Ele não conseguia chegar a menos de 3 metros do garanhão sem que este investisse contra a cerca. Duas vezes quase a rompeu. Uma vez deu um coice tão forte que uma viga de madeira lascou. As costelas de Ethan estavam pisadas de ter sido atirado contra a cerca. As suas mãos estavam rasgadas de agarrar a corda, mas ele continuava a voltar. E todas as manhãs, Clara já lá estava.
Ela nunca dizia muito. Apenas alimentava o cavalo, verificava o bebedouro e ia-se embora. Mas Ethan começou a notar coisas. Ela cantarolava enquanto trabalhava. Melodias baixas e suaves que pareciam acalmar o garanhão. O cavalo ainda dava coices e bufava, mas observava-a e escutava. Numa manhã, após outra tentativa falhada de pôr uma corda no cavalo, Ethan sentou-se na terra, a respirar com dificuldade.
Clara aproximou-se e colocou um cantil ao lado dele.
“Estás a fazer mal”, disse ela.
Ethan olhou para cima, limpando sangue dos nós dos dedos.
“Então diz-me como fazer bem.”
Ela hesitou, olhando para a casa. Depois agachou-se ao lado dele.
“Ele não é mau. Ele está ferido.”
“Ferido como?”
“Olha para o lado esquerdo dele. Vês aquela cicatriz?”
Ethan semicerrou os olhos. Ali ao longo das costelas do cavalo estava uma linha longa e irregular de pele levantada.
“Alguém o chicoteou repetidamente. É por isso que ele odeia cordas. É por isso que ele dá coices quando te aproximas pela esquerda.”
O peito de Ethan apertou-se.
“O teu pai fez isso?”
“Não. O homem a quem o Papá o comprou. Mas o Papá não quis saber. Ele só queria um garanhão que parecesse duro.”
Clara levantou-se limpando o pó da saia.
“Se queres domá-lo, tens de ganhar a confiança dele, não quebrá-lo.”
“Como é que faço isso?”
Ela olhou para ele por um longo momento.
“Começa por não o tratar como uma besta.”
Nas duas semanas seguintes, Ethan mudou a sua abordagem. Parou de tentar laçar o cavalo, parou de tentar encurralá-lo. Em vez disso, apenas se sentava fora do curral, quieto. A princípio, o garanhão ignorou-o, andou de um lado para o outro, bufou e deu coices. Mas lentamente, começou a acalmar. Clara passava pela maioria das tardes depois das suas tarefas. Ela ensinou-lhe coisas que ninguém mais sabia.
“Ele gosta mais de aveia do que de feno, mas só ao anoitecer. Ele acalma-se se cantarolares, não cantares. Cantarola. Nunca te aproximes dele pela esquerda. Sempre pela direita.”
Ethan ouviu. Ele tentou tudo o que ela disse, e começou a funcionar. Numa tarde, o garanhão deixou Ethan ficar a apenas um metro e meio de distância sem investir. O coração de Ethan batia forte, mas ele manteve-se calmo, estável. Clara observava da cerca, braços cruzados.
“Estás a aprender”, disse ela calmamente.
Ethan olhou para ela.
“Só porque me estás a ensinar.”
Ela desviou o olhar, mas ele viu a cor ténue subir-lhe às bochechas. No final do segundo mês, Ethan e Clara tinham caído num ritmo. Ela terminava o seu trabalho na casa, depois escapulia-se para os estábulos. Ele estaria lá a trabalhar com o cavalo e eles conversavam.
Numa noite, sentado na grade da cerca, Ethan contou-lhe sobre o seu passado.
“Perdi os meus pais na guerra. Tinha 14 anos. Trabalhei nas terras de outros homens durante anos só para sobreviver. Poupei cada cêntimo. Comprei o meu rancho há 3 anos. Não é muito, mas é meu.”
Clara ouviu, a expressão suave.
“Porquê vir para aqui?”, perguntou ela. “Porquê aceitar a aposta do Papá?”
Ethan olhou para as suas mãos.
“Porque estou cansado de estar sozinho. Cansado de as pessoas olharem para mim como se eu não fosse nada. Pensei que se pudesse provar o meu valor, talvez merecesse algo mais.” Ele fez uma pausa. “Talvez eu mereça alguém como a Amelia.”
O rosto de Clara tremeluziu apenas por um segundo. Depois ela sorriu, mas não chegou aos olhos.
“A Amelia nem sabe o teu nome”, disse ela calmamente.
“Saberá assim que eu domar este cavalo.”
Clara deslizou da cerca.
“Boa sorte, Ethan.”
Ela foi-se embora e Ethan não entendeu porque é que a voz dela soava tão triste. Mas à medida que os dias passavam, algo mudou. Ethan deu por si ansioso pela chegada de Clara todas as tardes. Deu por si à escuta dos passos dela. Ela não era como a Amelia. Não vestia seda nem sorria para os homens nem se fazia de difícil.
Mas ela era real. Conhecia cavalos melhor do que qualquer pessoa que ele já tivesse conhecido. Era paciente, inteligente, gentil, e nunca o fez sentir-se pequeno. Numa tarde, enquanto caminhava para a cidade para comprar mantimentos, Ethan viu Amelia. Ela passou numa carruagem elegante, a rir com as amigas. O vestido dela brilhava à luz do sol.
Ela parecia tudo o que Ethan sempre quisera: beleza, estatuto. Ela olhou para ele brevemente, depois desviou o olhar, dispensando-o como apenas mais um admirador pobre. O peito de Ethan doeu, mas não tanto quanto ele pensava que doeria. Nessa noite, Clara trouxe-lhe água e um pedaço de pão.
“Não tens de fazer isso”, disse Ethan.
“Eu sei.”
Ela sentou-se ao lado dele na terra, e observaram o garanhão juntos.
“Porque me ajudas?”, perguntou ele.
Clara não respondeu de imediato.
“Porque és a primeira pessoa que alguma vez perguntou”, disse ela finalmente.
Ethan olhou para ela. Olhou realmente para ela e pela primeira vez viu para lá do tamanho dela, para lá da forma como a cidade a via. Viu a Clara. Mas Amelia ainda era o sonho, o objetivo, o prémio pelo qual ele tinha trabalhado. Numa noite, Ethan parou no saloon para uma bebida.
Um grupo de homens numa mesa de canto estava a rir alto.
“Ouvi dizer que o Cole tem passado tempo com a filha gorda do xerife. Pobre coitado. Provavelmente pensa que ela vai meter uma cunha por ele junto da Amelia. Ou talvez ele tenha padrões baixos.”
Gargalhadas irromperam. A visão de Ethan ficou vermelha. Ele atravessou a sala em três passadas, agarrou o homem pelo colarinho e atirou-o contra a parede.
“Diz mais uma palavra sobre ela”, rosnou Ethan, “e eu parto-te o maxilar.”
A sala ficou em silêncio. O rosto do homem ficou pálido.
“Eu não quis dizer nada.”
“Quiseste, sim. E se eu te ouvir a ti ou a qualquer outra pessoa a desrespeitá-la outra vez, responderás perante mim.”
Ele largou o homem e saiu. Atrás dele, sussurros seguiram-se. Clara ouviu sobre isso no dia seguinte. Os olhos dela brilharam. Ninguém a tinha defendido antes, mas ela sabia a verdade. Ethan defendeu-a porque era honrado, não porque a amava. O coração dele ainda pertencia a Amelia. Três meses tinham passado. O outono tinha chegado e com ele veio o dia do acerto de contas. A notícia espalhou-se rápido por Dusty Creek.
O cowboy ia finalmente montar o cavalo do diabo. A meio da manhã, a praça da cidade estava cheia. Homens, mulheres, crianças. Todos queriam ver se Ethan Cole teria sucesso ou morreria a tentar. O xerife Hargrove estava na plataforma, braços cruzados, a sorrir como um gato com um rato encurralado. Amelia estava ao lado dele num vestido verde esmeralda.
Margaret e Violet ladeavam-na, as três com ar aborrecido. Clara estava atrás, quase escondida pela multidão. Vestia um vestido de algodão simples. O cabelo apanhado simplesmente. Ethan conduziu o garanhão preto para a praça. O cavalo estava calmo. O pelo brilhava. Os olhos estavam firmes. A multidão arfou.
“Aquele não pode ser o mesmo cavalo”, sussurrou alguém. “Ele conseguiu mesmo.”
Ethan não respondeu aos murmúrios. Manteve o foco no garanhão, uma mão no pescoço dele, a outra segurando as rédeas frouxamente. Tinha passado três meses a ganhar a confiança daquele animal. Não ia estragar tudo agora mostrando medo. O xerife deu um passo em frente, sobrancelhas levantadas.
“Bem, que eu seja amaldiçoado. Puseste-lhe uma corda?”
“Fiz mais do que isso”, disse Ethan.
Ele balançou-se para as costas do garanhão. A multidão susteve a respiração. O cavalo mexeu-se, músculos a tensar sob as pernas de Ethan. Por um momento, pareceu que podia corcovear, mas então Ethan inclinou-se para a frente, murmurando algo que só o cavalo podia ouvir. O garanhão relaxou.
Ethan guiou-o para a frente, caminhando lentamente à volta da praça. Depois instigou-o a um trote. Depois a um galope. O cavalo obedeceu a cada comando. Suave, controlado, poderoso. A multidão explodiu em aplausos. Ethan cavalgou de volta para a plataforma e desmontou, entregando as rédeas a um dos trabalhadores do rancho. Virou-se para enfrentar o xerife.
“Cumpri a minha parte do acordo”, disse Ethan, voz firme. “Agora cumpre a tua.”
O sorriso do xerife vacilou. A multidão inclinou-se, à espera. O xerife Hargrove olhou para Amelia, depois de volta para Ethan. Tinha sido encurralado. A cidade inteira estava a ver. Não podia recuar agora, mas o olhar nos olhos dele era puro veneno.
“Trato é trato”, disse o xerife lentamente.
Virou-se e gesticulou em direção às filhas. A multidão murmurou excitada, assumindo que ele ofereceria Amelia, mas a mão do xerife moveu-se para lá dela, para lá de Margaret, para lá de Violet. Apontou para o fundo da multidão.
“Clara, sobe aqui.”
Os murmúrios transformaram-se em suspiros. O rosto de Clara ficou branco. As pessoas viraram-se para olhar para ela. Alguns pareciam confusos. Outros começaram a rir baixinho.
“Ele disse a filha dele”, sussurrou alguém. “Não disse qual.”
Gargalhadas começaram a ondular pela multidão. Clara ficou congelada. A voz do xerife ecoou.
“Anda lá, rapariga. Não sejas tímida.”
Mais risos. Clara forçou-se a caminhar para a frente. Cada passo parecia caminhar através de fogo. A multidão abriu caminho e ela subiu para a plataforma. O xerife agarrou-lhe o braço e puxou-a para a frente, apresentando-a a Ethan como uma piada cruel.
“Querias uma filha, cowboy. Aqui está ela, a minha filha.”
A multidão explodiu em gargalhadas. Homens batiam nos joelhos. Mulheres cobriam a boca, olhos a brilhar com deleite malicioso. Amelia desviou o olhar, envergonhada até por estar associada à cena. Clara ficou ali, cabeça baixa, lágrimas a escorrer pelo rosto. Ethan olhou para o xerife, depois para Clara. O peito dele apertou-se.
Raiva inundou-o. Raiva do xerife, da cidade, da crueldade de tudo aquilo. Ele tinha trabalhado durante três meses, sangrado, sofrido, ganho isto, e eles transformaram-no numa piada. Olhou para Amelia ali parada, aliviada por não ter de casar com ele. O seu sonho estilhaçado. Mas depois olhou para o rosto de Clara.
As lágrimas, a vergonha, a humilhação. Ela não merecia isto. Ele não tinha escolha. O acordo foi feito publicamente. Se recusasse agora, perderia tudo. A sua honra, a sua reputação, qualquer hipótese de construir uma vida ali. Ethan deu um passo em frente. O riso acalmou ligeiramente. Todos a ver o que ele faria. Ele estendeu a mão e gentilmente levantou o queixo de Clara, forçando-a a olhar para ele.
“Acham que me envergonharam?”, disse Ethan, a voz a ecoar pela praça.
Virou-se para enfrentar a multidão.
“Ela é a razão pela qual eu domei aquele cavalo. Não sorte, não habilidade. Ela ensinou-me tudo. Trabalhou ao meu lado todos os dias enquanto o resto de vocês se sentava nos vossos alpendres e ria.”
A multidão ficou em silêncio.
“Ela vale mais do que cada um de vocês juntos.”
Ele virou-se de volta para Clara e a voz dele suavizou-se.
“E eu honrarei a minha palavra.”
Os olhos de Clara arregalaram-se. As lágrimas transbordaram. Mas desta vez não eram apenas lágrimas de vergonha. Eram confusão, descrença, porque ela via nos olhos dele. A deceção, a amargura, a resignação. Ele não a estava a escolher. Estava a aceitá-la porque não tinha outra escolha. Ethan pegou na mão dela.
“Vem”, disse ele calmamente.
Levou-a para baixo da plataforma. A multidão ficou congelada, incerta de como reagir. Enquanto se afastavam, os sussurros começaram.
“Pobre tolo! Pensou que ia ficar com a Amelia. O xerife enganou-o bem. Aquele casamento não vai durar um ano.”
Clara ouviu cada palavra. Ethan também, e nenhum deles falou enquanto caminhavam em direção a um futuro incerto.
O casamento aconteceu uma semana depois, exigido por lei para selar o acordo. O pregador da cidade oficiou. Duas testemunhas compareceram porque tinham de o fazer. O xerife Hargrove não veio. Amelia enviou uma nota breve. “Parabéns.” Nada mais. Clara vestiu um vestido simples. Ethan vestiu a sua camisa mais limpa. Disseram os votos. As palavras pareciam vazias.
Quando o pregador disse: “Pode beijar a noiva”, Ethan hesitou. Depois inclinou-se e beijou-lhe a bochecha brevemente. O coração de Clara afundou. O rancho de Ethan era pequeno. Uma cabana de madeira, um celeiro, alguns hectares de terra para pastagem. Nada chique. Clara mudou-se, trazendo apenas um único baú de pertences. Ela tentou ajudar. Cozinhou. Tratou do jardim. Trabalhou com os cavalos, mas Ethan estava distante. Era educado, respeitoso.
Agradecia-lhe pelas refeições. Não levantava a voz, mas havia uma parede entre eles. À noite, dormiam em lados opostos da cama, de costas um para o outro. Por vezes Clara ouvia-o suspirar na escuridão. Ela sabia o que ele estava a pensar. “Eu devia ter a Amelia. Ganhei-a. Mereço melhor do que isto.”
Numa tarde, Clara foi à cidade comprar mantimentos. No momento em que entrou no armazém geral, os sussurros começaram. A Sra. Callaway sorriu tensa.
“Ora, se não é a Sra. Cole. Como a vida de casada a está a tratar, querida?”
As outras mulheres riram.
“Deve ser difícil saber que o seu marido queria a sua irmã.”
“Pobre homem. Trabalhou tanto apenas para acabar com…” risos abafados.
Clara pagou rapidamente e saiu, olhos a arder com lágrimas não derramadas. Quando chegou a casa, Ethan estava no celeiro. Ela não lhe contou o que aconteceu. Qual era o objetivo? Um mês de casamento, Ethan foi à cidade a cavalo. Viu Amelia fora da loja a rir com um grupo de homens, rancheiros ricos, comerciantes. Ela parecia radiante, intocável.
Um dos homens disse algo e ela atirou a cabeça para trás, a rir. O peito de Ethan doeu. Aquela devia ter sido a vida dele. Virou o cavalo e foi para casa sem comprar o que tinha ido buscar. Semanas transformaram-se em meses. Clara trabalhava incansavelmente. Provou ser hábil com os cavalos. Treinava-os ao lado de Ethan, muitas vezes fazendo o trabalho mais rápido e melhor. Mas Ethan mal reconhecia isso.
Numa noite, após um longo dia, Clara fez a refeição favorita de Ethan, guisado com pão fresco. Ele comeu em silêncio.
“Está bom?”, perguntou Clara calmamente.
“Está bom. Obrigado.”
Isso foi tudo. O coração de Clara partiu-se um pouco mais. Numa noite, Clara acordou e encontrou o lado da cama de Ethan vazio. Levantou-se e caminhou até à janela. Ele estava lá fora sentado nos degraus do alpendre, a olhar para as estrelas. Ela ouviu-o a falar consigo mesmo ou talvez com Deus.
“Fiz tudo certo. Trabalhei. Lutei. Provei o meu valor e é isto que recebo. Uma esposa que não escolhi. Uma vida que não queria.”
A mão de Clara foi à boca. Recuou da janela, lágrimas a escorrer pelo rosto. Ela sabia que ele não a amava, mas ouvi-lo cortou mais fundo do que imaginava. Na manhã seguinte, Clara tomou uma decisão. Não podia viver assim. Nenhum deles podia. Esperou até à noite depois do jantar, quando estavam sentados na cabana.
“Ethan, preciso de dizer uma coisa.”
Ele levantou os olhos do livro de registos que estava a rever.
“Eu sei que não querias isto. Sei que querias a Amelia. Sei que só casaste comigo porque não tiveste escolha.”
Ethan abriu a boca para falar, mas ela levantou a mão.
“Está tudo bem. Eu entendo. Mas não tens de ficar preso.”
“O que estás a dizer?”
“Estou a dizer que se te quiseres ir embora, eu compreendo. Direi a todos que foi culpa minha. Que eu não conseguia ser a esposa que precisavas. Podes recomeçar noutro lugar. Encontrar alguém que realmente queiras.”
Ela limpou os olhos.
“Mereces a vida com que sonhaste, Ethan. Não isto.”
Por um longo momento, Ethan apenas olhou para ela. Depois algo mudou na expressão dele. Os olhos suavizaram-se, a mandíbula descontraiu. Levantou-se lentamente, e Clara susteve a respiração.
“Achas que me quero ir embora?”, perguntou ele, voz rouca. “Achas?”
Ethan andou até à janela, olhando para o céu a escurecer.
“Eu pensei que queria”, disse ele calmamente. “Pensei que queria a Amelia. Pensei que a merecia porque trabalhei muito e provei o meu valor.”
Ele parou, virando-se para enfrentar Clara.
“Mas sabes o que a Amelia nunca fez?”
Clara abanou a cabeça, lágrimas a escorrer.
“Ela nunca me perguntou como foi o meu dia. Nunca me trouxe água quando eu estava a sangrar. Nunca me ensinou nada, nunca me defendeu, nunca sequer olhou para mim como se eu importasse.” A voz dele quebrou ligeiramente. “Tu fizeste tudo isso todos os dias, mesmo sabendo que eu não o merecia.”
A respiração de Clara prendeu.
“Eu estava tão focado em perseguir um sonho que não vi o que estava mesmo à minha frente.” Ele aproximou-se. “Eu não te vi, Clara. Mas vejo-te agora, e não me quero ir embora. Quero ficar. Quero construir esta vida contigo. Não porque tenho de o fazer, porque escolho fazê-lo.”
Ele pegou nas mãos dela.
“Lamento ter demorado tanto tempo a perceber, mas eu amo-te, Clara. Não por pena. Não por obrigação. Eu amo-te.”
Clara desabou, soluçando. Ethan puxou-a para os seus braços, segurando-a com força. Pela primeira vez desde o casamento, a parede entre eles desmoronou-se, e no seu lugar, algo real começou a crescer. Meses passaram, o rancho cresceu.
Ethan e Clara trabalhavam lado a lado, treinando cavalos, expandindo a terra. Riam juntos agora. Conversavam até tarde da noite. Construíram uma vida baseada em parceria e respeito. Clara floresceu. Andava mais direita, falava com confiança. A sua habilidade com cavalos tornou-se conhecida em todo o território. As pessoas começaram a vir ter com eles para treino. O negócio prosperou. Mas mais do que isso, o amor deles prosperou.
Ethan já não via Clara como a mulher com quem foi forçado a casar. Via-a como a sua parceira, a sua igual, a sua escolha. E Clara já não se sentia um fardo. Sentia-se valorizada. Um dia, uma rapariga jovem chegou ao rancho, talvez 16 anos, corpo pesado, olhos cheios de vergonha.
“Ouvi dizer que treinam cavalos”, disse a rapariga calmamente. “As pessoas dizem que sou demasiado desajeitada. Demasiado grande. Dizem que só vou atrapalhar.”
Clara sorriu gentilmente.
“Anda cá.”
Ela levou a rapariga ao curral onde uma égua jovem pastava.
“Esta é a Rosie. Ela estava assustada quando a recebemos. Não confiava em ninguém, mas eu trabalhei com ela todos os dias. Ganhei a confiança dela. Agora é um dos melhores cavalos que temos.”
Clara virou-se para a rapariga.
“As pessoas dir-te-ão o que não podes fazer, mas o que importa é o que tu acreditas sobre ti mesma.”
Os olhos da rapariga encheram-se de lágrimas.
“Ensinas-me?”
“Sim.”
Com o tempo, Clara e Ethan acolheram mais marginalizados. Jovens que a cidade tinha descartado. Ensinaram-lhes, deram-lhes propósito, deram-lhes dignidade. O rancho tornou-se mais do que um negócio. Tornou-se um refúgio, um lugar onde as pessoas aprendiam que valiam alguma coisa.
2 anos após o casamento, a feira das noivas regressou. Ethan e Clara caminharam pela praça da cidade juntos. As pessoas olhavam, algumas sussurravam, mas agora os sussurros eram diferentes.
“São os Cole. Melhores treinadores de cavalos em três condados. Ouvi dizer que acolheram o rapaz Miller. Mudaram a vida dele. Nunca pensei que aquele casamento funcionasse. Acho que estava errado.”
Ethan e Clara passaram pela plataforma onde o xerife outrora esteve. O xerife Hargrove estava lá, mais velho agora, menos orgulhoso. Amelia estava ao lado dele, ainda solteira, ainda bonita, mas com uma dureza nos olhos. Ela viu Ethan. Por um momento, os olhos deles encontraram-se. Ela olhou para ele de forma diferente agora, com algo parecido a arrependimento. Mas Ethan não sentiu nada.
Ele virou-se para Clara, pegou na mão dela e continuou a andar. Nessa noite, de volta ao rancho, Clara e Ethan sentaram-se no alpendre a ver o pôr-do-sol. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa. Ao longe, ouviam o riso dos jovens que tinham acolhido a trabalhar com os cavalos.
“Alguma vez pensas naquele dia?”, perguntou Clara suavemente. “Quando o Papá me empurrou para a frente? Desejas que as coisas tivessem sido diferentes?”
Ethan virou-se para olhar para ela.
“Não, nem por um segundo.”
Clara sorriu.
“Porque eu não mudaria nada.”
Ethan apertou a mão dela.
“Sabes o que percebi?”, disse ele.
“O quê?”
“Passei tanto tempo a perseguir o que pensava que queria. O que pensava que me faria feliz. Mas estava a perseguir um sonho que nem sequer me via.”
Ele olhou para Clara, os olhos cheios de amor.
“Tu viste-me desde o início. Viste-me quando ninguém mais viu.”
Os olhos de Clara brilharam.
“E tu viste-me também. Mesmo quando eu não me via a mim mesma.”
Ficaram sentados em silêncio confortável, observando o sol mergulhar abaixo do horizonte. Esta era a vida que tinham construído. Não a vida com que Ethan sonhara, mas algo melhor, algo real. Uma vida construída sobre respeito, parceria e amor que cresceu lenta e firmemente através dos atos diários de se escolherem um ao outro. A cidade de Dusty Creek falaria sobre eles durante anos.
Alguns diziam que Ethan Cole era um tolo por aceitar Clara em vez de Amelia. Outros diziam que ele era o homem mais inteligente do território. Mas Ethan nunca se importou com o que diziam. Tinha encontrado algo muito mais valioso do que beleza ou estatuto. Tinha encontrado uma parceira que acreditava nele, uma amiga que estava ao lado dele, um amor que foi ganho, não dado, e no final isso valia mais do que toda a aprovação do mundo. Riram-se quando ela foi empurrada para a frente, mas o cowboy aprendeu o que a cidade nunca conseguiu.
O coração mais forte era aquele que tentavam com mais força esconder. E às vezes o maior amor é aquele que nunca viste chegar. Sei que muitos de vocês a assistir viveram o suficiente para entender que o amor verdadeiro nem sempre é bonito. Nem sempre é instantâneo. Às vezes é confuso, complicado e leva tempo a crescer. Mas quando é real, vale tudo.
Se passaste pela tua própria jornada de encontrar o amor mais tarde na vida ou de aprender a amar-te a ti mesmo primeiro, partilha a tua sabedoria nos comentários. A tua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa de ouvir hoje. E subscreve se quiseres mais histórias que honram a vida real, lutas reais e redenção real. Este canal é para aqueles de nós que apreciam profundidade e verdade.