
Ela foi amarrada e deixada para congelar com seus bebês… Ainda estou soluçando.
A nevasca caía como se o próprio céu estivesse se despedaçando. Lençóis brancos de neve açoitavam a rodovia vazia, apagando as marcas de pneus quase tão rápido…

O Coronel Que Se Dizia Dono de Uma Mulher e Dividia a Esposa com 7 Escravos: O Acordo Secreto de 1864 Que Destruiu uma Dinastia em Minas e Mudou Para Sempre o Destino de Uma Família!
Em 1864, nas montanhas de Minas Gerais, o coronel Augusto Ferreira da Costa fez o impensável. Criou um acordo que permitiu que sete de seus escravos tivessem…

As MORTES MAIS BRUTAIS dos soldados alemães na frente soviética
Na sua escala, fanatismo e pura criminalidade, a guerra da Alemanha nazi contra a União Soviética tem poucos rivais na história do conflito armado. Quando Hitler decidiu…
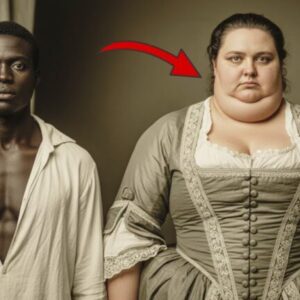
O Dono da Fazenda Entregou Sua Filha Obesa ao Escravo… Ninguém Imaginou o Que Ele Faria com Ela
A fazenda São Jerônimo se estendia por hectares de café e cana, terra vermelha grudando nas botas, calor úmido que fazia o suor escorrer antes mesmo do…

Ela pagava 500 dólares por noite para ser sua escrava — O menino escravo que possuía a filha de um juiz (Geórgia, 1873)
Ela pagava 500 dólares por noite para ser sua escrava — O menino escravo que possuía a filha de um juiz (Geórgia, 1873) I. A Lenda Que…

O DUQUE VIÚVO FINGIU SER POBRE PRA ENCONTRAR UMA MÃE PRA SUA FILHA… E A JOVEM ESCRAVA O SURPREENDEU!
Tomy, ninguém deveria passar fome. Aquelas palavras simples, ditas com uma serenidade que contrastava com a dureza da vida, por uma jovem de pele escura e olhos…

LULA PROFETIZOU O FUTURO DE MORO: A REVIRAVOLTA HISTÓRICA TODOS FORAM AVISADOS!
LULA PROFETIZOU O FUTURO DE MORO: A REVIRAVOLTA HISTÓRICA QUE TODOS FORAM AVISADOS! Em uma das sessões mais intensas e emocionantes de sua defesa, o ex-presidente Luiz…

O ritual proibido da noite de núpcias, que Roma tentou apagar da história, era pior que a morte.
O jornalista relata a história de uma prática antiga e perturbadora: Na escuridão de um quarto nupcial, sob o olhar impassível de um crucifixo na parede, uma…

Como os prisioneiros executaram brutalmente os guardas N4ZI após a libertação dos campos?
A 29 de abril de 1945, soldados americanos chegam ao campo de concentração de Dachau, atraídos por alguns relatórios de inteligência perturbadores. Nada do que tinham lido…

ICL EM CHAMAS: EX-GOVERNADOR GAROTINHO DESTROÍ CLÁUDIO CASTRO E GARANTE AFASTAMENTO DO BOLSONARISTA!
ICL EM CHAMAS: GAROTINHO DESTROÍ CLÁUDIO CASTRO E GARANTE AFASTAMENTO DO BOLSONARISTA! A política do Rio de Janeiro vive um momento turbulento e explosivo. O ex-governador Garotinho,…