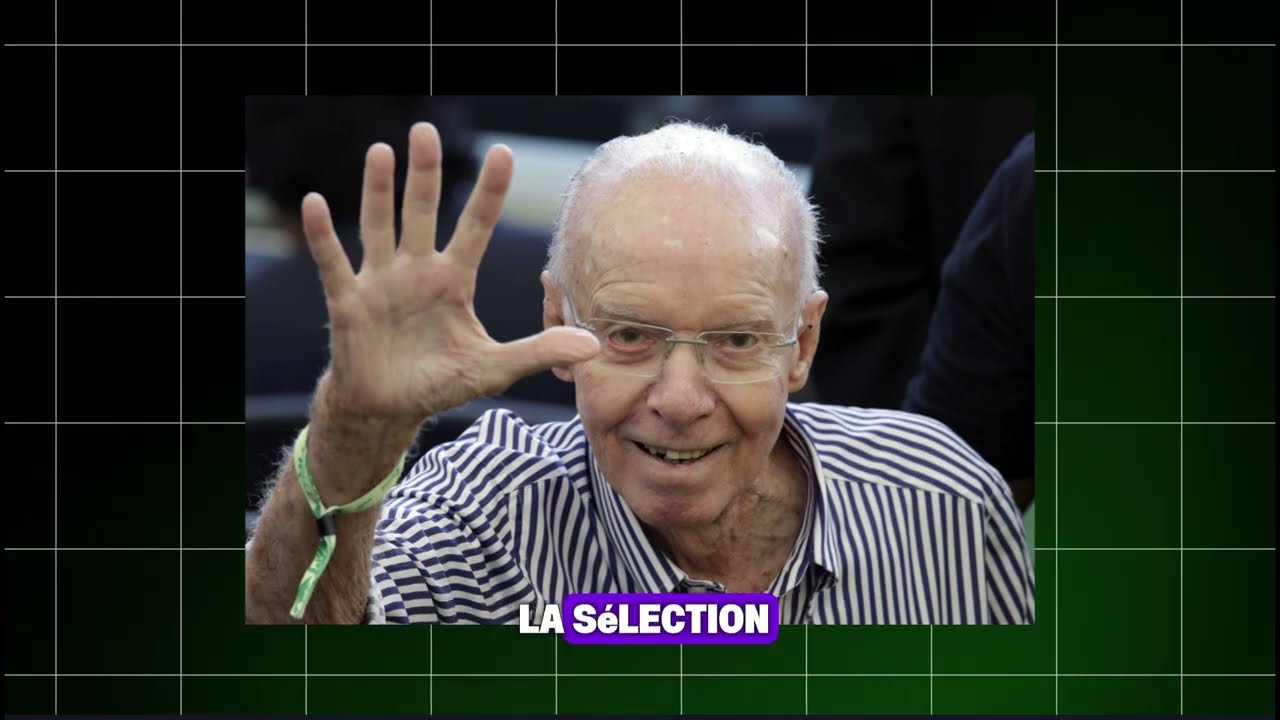A fazenda estava em silêncio há três décadas. Ninguém pisava naquela terra desde que o último dos Pereira desapareceu nos anos 40. Mas em dezembro de 1972, quando dois homens quebraram o cadeado enferrujado daquele galpão, descobriram que a família nunca havia partido. Ela apenas se transformou.
Na Serra da Canastra, região de São Roque de Minas, 15 crianças viviam como fantasmas em meio ao feno podre e ferramentas abandonadas. Suas roupas eram costuradas com panos de saco, seus cabelos longos e emaranhados como raízes antigas, e seus olhos, seus olhos refletiam uma inteligência que não pertencia àquelas idades.
Quando a Polícia Civil chegou, as crianças se organizaram em semicírculo. Não falaram, apenas observaram, como se soubessem que aquele dia chegaria. Antes de continuar, escreva nos comentários de onde você está assistindo esse. Quero saber até onde nossas histórias estão chegando. O ar estava espesso naquela manhã de dezembro.

Benedito Moreira e seu compadre Josué tinham saído antes do amanhecer para caçar na serra. Seguiam o rastro de sangue de um ferido, quando a trilha os levou além da cerca que ninguém ousava transpor. A cerca da fazenda Pedra do Silêncio. O nome não era coincidência. Por ali, o vento não assobiava, os pássaros não cantavam, até os grilos pareciam evitar aquela terra. Benedito hesitou diante do portão de madeira carcomida.
Sua avó sempre dizia que os Pereira tinham pacto com coisas que não se nomeiam, que a família não seguia os costumes cristãos, que criava os filhos longe dos olhos de Deus. Mas isso era conversa de benzedeira, pensou ele. Os Pereira tinham sumido havia décadas.
O rastro de sangue continuava pela estrada de terra batida e Benedito precisava daquela carne. Eles caminharam em silêncio por quase 1 km até avistar as construções. A casa grande ainda estava de pé, mas as janelas eram buracos negros sem vidro. O telhado havia desabado em alguns pontos. Mato alto engolia as paredes de Adobe, mas foi o galpão que chamou a atenção de Josué. A porta estava entreaberta e de lá vinha movimento.
“Tem gente”, sussurrou Josué, apontando para as sombras que se mexiam lá dentro. Benedito empunhou a espingarda. Podiam ser poceiros ou coisa pior. Na região falava-se de homens que se escondiam na serra para fugir da lei. Homens que matariam por muito menos que uma propriedade abandonada. Eles se aproximaram devagar.
O cheiro os atingiu primeiro. Não era podridão, era algo mais antigo, como terra molhada, misturada com ferro velho. E havia outro odor por baixo, doce, enjoativo, como leite azedo. Benedito empurrou a porta com o cano da arma. O que viu do outro lado fez seu estômago revirar. 15 crianças o encaravam em absoluto silêncio. Estavam dispostas em semicírculo, como se esperassem a visita.
A mais nova parecia ter não mais que 4 anos. A mais velha, uma moça de talvez 19. Todas vestiam roupas costuradas com tecido grosso de saco de milho, descalças, sujas, mas organizadas. Organizadas demais. Meu Deus do céu”, murmurou Josué, fazendo o sinal da cruz. As crianças não correram, não gritaram, apenas continuaram olhando. E foi então que Benedito notou os detalhes que o assombrariam pelo resto da vida.
Seus cabelos cresciam sem corte há anos, formando uma massa emaranhada que descia até a cintura. A pele era pálida como cera de vela, quase transparente nas têmporas. E os olhos os olhos eram fundos demais. escuros demais, como posso sem fundo. Mas o mais perturbador não era a aparência, era a quietude.
15 crianças em completo silêncio, sem se mexer, sem piscar, como se fossem uma única criatura com 15 corpos. Benedito baixou a arma. Sua voz saiu embargada. Vocês estão bem? Onde estão os pais de vocês? Nenhuma resposta, apenas aqueles olhos fixos nele. Josué deu um passo para trás. Benedito, vamos embora. Isso não é normal.
Mas Benedito não conseguia se mover. Havia algo hipnótico naquele silêncio, naquela organização, como se as crianças estivessem esperando, esperando há muito tempo. Foi então que a mais nova, a menina de 4 anos, inclinou a cabeça para o lado. um movimento simples, natural, exceto que todas as outras fizeram o mesmo movimento ao mesmo tempo, com a mesma inclinação, o mesmo ângulo, 15 pescoços se movendo como um só. Benedito sentiu o sangue gelar nas veias.
Agarrou Josué pelo braço e saiu correndo. Correram pela estrada de terra, correram além da cerca. Correram até chegarem ao caminhão abandonado na beira da estrada. só pararam quando a fazenda Pedra do Silêncio sumiu entre as árvores. Duas horas depois, eles estavam na delegacia de São Roque de Minas. O delegado Osvaldo Carneiro os ouviu com ceticismo.
Crianças abandonadas eram comuns na região. Famílias pobres que não tinham como criar os filhos. Às vezes os deixavam em fazendas vazias, esperando que alguém os achasse. Mas algo no relato de Benedito o incomodou. A descrição das crianças, a forma como se comportavam e, principalmente, o medo genuíno no olhar daqueles dois homens.
Benedito Moreira era conhecido na cidade, trabalhador, honesto, não era homem de inventar história. O delegado Carneiro decidiu investigar. Na tarde do mesmo dia, uma viatura da Polícia Civil subiu à serra em direção à fazenda Pedra do Silêncio.
Junto com o delegado, seguiram dois soldados e a assistente social, Conceição Furtado. Conceição trabalhava com crianças abandonadas há 15 anos. Achava que já tinha visto de tudo. Ela estava errada. Quando chegaram à fazenda, as crianças ainda estavam no galpão, na mesma posição, o mesmo semicírculo, como se não tivessem se movido 1 cm desde amanhã.
Conceição se aproximou devagar, falando com voz suave: “Olá, crianças. Meu nome é Conceição. Vim aqui para ajudar vocês.” Silêncio. Ela tentou novamente. Vocês têm fome, sede? Precisam de alguma coisa? Foi então que a mais velha, a moça de 19 anos, abriu a boca. Sua voz saiu rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Nós somos Pereira.
As outras crianças repetiram em uníssono: “Nós somos Pereira.” 15 vozes falando as mesmas palavras. No mesmo tom, no mesmo ritmo. O delegado carneiro sentiu um arrepio subir pela espinha. Conceição engoliu em seco, mas manteve a calma profissional. Pereira é o sobrenome de vocês. Onde estão seus pais? A moça mais velha sorriu.
Um sorriso que não chegava aos olhos. Nós somos todos. E novamente o couro. Nós somos todos. Foi nesse momento que Conceição percebeu algo que a faria despertar suando pelos próximos 20 anos. As crianças respiravam juntas exatamente ao mesmo tempo, como pulmões conectados a um único corpo.
O ar estava ficando pesado no galpão, espesso, como se a própria atmosfera estivesse mudando. O delegado fez sinal para que todos saíssem, mas quando se viraram para partir, ouviram o som, um murmúrio baixo, grave, vindo das 15 gargantas ao mesmo tempo. Não eram palavras, não era música, era algo mais primitivo, algo que fazia os ossos vibrarem e o estômago revirar. Eles correram para a viatura.
Naquela noite, o delegado carneiro ligou para a capital, falou com superiores, pediu orientação e duas palavras mudaram tudo: regime militar. Em 1972, o Brasil vivia sob ditadura. E ditaduras não gostam de mistérios, não gostam de perguntas sem resposta, não gostam de coisas que não conseguem controlar.
Na manhã seguinte, três veículos oficiais subiram à serra, médicos, assistentes sociais e homens de terno que não se identificaram. As crianças Pereira estavam prestes a descobrir que existem coisas piores que o isolamento, existem coisas piores que o abandono, existe o interesse do Estado. Os homens de terno chegaram antes do amanhecer, não se apresentaram, não mostraram identificação, apenas instruíram o delegado carneiro a manter distância e observar. Um deles, mais velho, de bigode grisalho, parecia comandar a
operação. Os outros o chamavam de doutor, mas ele nunca revelou seu nome verdadeiro. Era dezembro de 1972. O país vivia sob censura. Perguntas não eram bem-vindas e o que aconteceu nas próximas 72 horas na fazenda Pedra do Silêncio jamais constaria nos jornais. O primeiro médico a examinar as crianças foi Dr.
Antônio Vilela, psiquiatra formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em traumas infantis e distúrbios de desenvolvimento. Homem metódico, racional. Ele acreditava que ciência e lógica podiam explicar qualquer comportamento humano. Três dias depois, doutor, Vilela queimou suas anotações, pediu transferência para Brasília e nunca mais trabalhou com crianças.
Mas antes disso, ele documentou o impossível. As 15 crianças foram levadas para o centro de saúde de São Roque de Minas, uma clínica pequena, mas equipada para exames básicos. Dr. Vilela solicitou que fossem separadas para avaliações individuais. Foi então que tudo começou. A criança mais nova, uma menina que aparentava 4 anos, foi levada para uma sala isolada.
No momento em que a porta se fechou, as outras 14 começaram a gemer. Não era choro, não era dor física, era algo mais profundo, um lamento que vinha de lugar nenhum que ele conseguisse identificar. O gemido cresceu, tornou-se mais agudo, mais desesperado. E então algo aconteceu que fez Dr. Vilela questionar tudo o que sabia sobre medicina.
A menina na sala isolada começou a convulsionar. Seu corpo pequeno se contorcia na maca como se estivesse sendo eletrocutado. Mas não havia equipamentos ligados, não havia explicação física e o mais perturbador, as convulsões seguiam exatamente o mesmo ritmo dos gemidos lá fora. Dr. Vilela correu para abrir a porta.
No instante em que a menina voltou a ver as outras crianças, as convulsões pararam. Os gemidos cessaram e ela simplesmente se levantou como se nada tivesse acontecido. O médico anotou: “Possível conexão psicológica extrema entre os sujeitos. Necessário investigar separação gradual. Demais, ele não tentou separar novamente.
Não naquele dia. Os exames médicos básicos revelaram anomalias que Dr. Vilela não conseguia classificar. A temperatura corporal de todas as crianças estava 2 graus abaixo do normal. Seus batimentos cardíacos eram lentos demais para pessoas de suas idades. E havia algo estranho com o sangue.
Quando a enfermeira Geralda Matos coletou amostras sanguíneas, notou que o sangue coagulava quase instantaneamente. Em questão de segundos, se transformava numa massa escura, quase preta. Ela havia trabalhado em hospitais por 20 anos e nunca vira nada parecido. Doutor, ela sussurrou para Dr. Vilela. Olhe isso. Ele observou as amostras.
O sangue não apenas coagulava rapidamente. Ele parecia denso, viscoso, como se carregasse mais glóbulos vermelhos que o normal, ou como se carregasse algo mais. As amostras foram enviadas para análise em Belo Horizonte. O laudo demorou duas semanas. Quando chegou, Dr. Vilela leu o resultado três vezes antes de acreditar.
O sangue das crianças Pereira continha células que os técnicos não conseguiam identificar. estruturas que pareciam glóbulos vermelhos, mas eram maiores, mais complexas, com padrões genéticos que não constavam em nenhum manual médico. Um dos técnicos anotou na margem do relatório: “Sugiro nova coleta, possível contaminação das amostras.” Mas não houve nova coleta.
No dia seguinte, o laboratório em Belo Horizonte recebeu uma ligação oficial. As amostras deveriam ser destruídas. O caso estava classificado. Nenhum registro deveria ser mantido. Enquanto isso, na clínica de São Roque de Minas, Dr. Vilela tentava entender o comportamento das crianças.
Elas se comunicavam sem falar, moviam-se em sincronia perfeita e demonstravam conhecimento que não deveriam ter. Durante uma sessão, ele mostrou à criança mais velha uma fotografia de Belo Horizonte. uma foto da Praça da Liberdade que havia tirado meses antes. A garota olhou a imagem por alguns segundos, depois a devolveu sem comentários. Uma hora depois, quando Dr.
Vilela estava examinando outra criança em sala diferente, ela desenhou a praça com detalhes precisos, incluindo um carro que aparecia no canto da fotografia original. Ela nunca havia visto a foto, nunca havia saído da fazenda e, segundo os registros, nunca havia estado em Belo Horizonte. Doutor Vilela começou a testar essa conexão, mostrava objetos para uma criança e pedia que outra, em sala separada desenhasse o que sentia.
Os resultados eram perturbadores. A precisão chegava a 90%. Nas suas anotações privadas, ele escreveu: “Estes sujeitos parecem compartilhar algum tipo de consciência coletiva, como se fossem terminais de um mesmo sistema nervoso e então acrescentou numa letra apressada: “Isso deveria ser impossível”.
A assistente social Conceição Furtado tentava uma abordagem diferente. Ela havia trabalhado com crianças selvagens antes, crianças criadas longe da civilização que não conheciam normas sociais básicas. Geralmente elas respondiam bem à paciência e carinho. As crianças Pereira não respondiam a nada. Conceição trouxe brinquedos. Elas os ignoraram. Trouxe doces. não demonstraram interesse.
Trouxe livros de histórias infantis. Elas olhavam as páginas como se fossem escritas em língua alienígena. “Vocês sabem ler?”, perguntou para a mais velha. A garota assentiu. “Podem ler algo para mim?” A garota pegou um livro aleatório da mesa, era um manual médico em português, e começou a ler em voz alta, sem hesitação, pronunciando corretamente termos médicos complexos que universitários teriam dificuldade.
Conceição ficou chocada, não pela leitura em si, mas pelo fato de que, enquanto uma criança lia, as outras moviam os lábios junto silenciosamente, como se estivessem lendo também. 45 minutos depois, quando a leitura terminou, Conceição pediu que uma das crianças menores repetisse algum trecho. A menina de 7 anos recitou dois parágrafos inteiros, palavra por palavra, sem nunca ter visto o livro.
Conceição anotou: “Possível memória compartilhada entre os sujeitos requer investigação neurológica aprofundada, mas a investigação neurológica nunca aconteceu, porque no terceiro dia os homens de terno tomaram uma decisão. As crianças seriam transferidas. Para onde? Ninguém disse.
O processo seria sigiloso e todos os envolvidos assinariam um termo de confidencialidade. Dr. Vilela protestou. Conceição argumentou que as crianças precisavam de mais tempo para a adaptação. O delegado carneiro questionou a legalidade da transferência. O homem de bigode grisalho foi claro. Isso deixou de ser uma questão local. É assunto de segurança nacional. Segurança Nacional.
Em 1972, essas palavras encerravam qualquer discussão. Na madrugada do quarto dia, três vãs sem identificação subiram à serra. As crianças foram carregadas em silêncio. Elas não resistiram, não choraram, apenas olharam pela janela traseira enquanto São Roque de Minas desaparecia na escuridão. Dr.
Vilela ficou na porta da clínica, observando os veículos se afastarem. Ele havia dedicado a vida inteira à medicina. Acreditava no poder da ciência para curar, explicar, resolver. Mas naqueles três dias havia visto coisas que a ciência não conseguia explicar, coisas que o faziam questionar a própria natureza da realidade.
Duas semanas depois, ele recebeu uma ligação oficial. Seus arquivos sobre o caso deveriam ser entregues às autoridades. Todas as cópias, todas as anotações, todos os registros. Dr. Vilela obedeceu, entregou quase tudo, quase escondeu uma única página, uma página que escrevera na última noite, depois de observar as crianças durante horas, uma página que descrevia sua conclusão final sobre o que havia encontrado na fazenda Pedra do Silêncio.
Ele guardou essa página num cofre particular e ali ela permaneceu por 40 anos até sua morte em 2012. Quando os filhos limparam seus pertences, encontraram a página amarelada, leram as palavras que ele havia escrito décadas antes e tomaram a mesma decisão que ele tomara. Alguns conhecimentos são perigosos demais para serem compartilhados. A página foi queimada.
as cinzas espalhadas ao vento. Mas uma frase ficou gravada na memória do filho mais velho. Uma frase que ele repetiu anos depois para um jornalista investigativo. Elas não são crianças no sentido que conhecemos. São fragmentos de algo maior, algo que não deveria existir.
Antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal. Caso não esteja, se inscreva. pois temos mais histórias como essa para contar. As crianças Pereira desapareceram naquela madrugada de dezembro, levadas para um lugar que não constava em mapas oficiais, um lugar onde o Estado brasileiro guardava seus segredos mais profundos.
E lá, longe dos olhos do mundo, elas começaram a se transformar novamente, desta vez em algo ainda mais perturbador. A casa de repouso São Bento não aparecia em nenhum mapa turístico de Minas Gerais. Construída em 1923 para abrigar tuberculosos em estágio terminal, foi abandonada quando os antibióticos tornaram a doença curável. Por 20 anos, permaneceu vazia entre as montanhas da região de Caxambu, até que o regime militar encontrou uma nova utilidade para aquelas paredes isoladas.
Era o lugar perfeito para esconder problemas que não tinham solução. Em janeiro de 1973, 15 crianças atravessaram o portão de ferro da instituição. Oficialmente eram órfã com deficiência mental grave. na realidade eram o maior enigma que o governo brasileiro já havia enfrentado.
E durante os próximos 7 anos, elas transformariam São Bento num laboratório de pesquisas que nunca deveria ter existido. A diretora, irmã Dolores Santana recebeu instruções claras: manter as crianças juntas, alimentadas e vivas, fazer relatórios mensais de comportamento e jamais questionar a natureza do projeto. Ela era uma mulher prática, acostumada a lidar com casos difíceis.
achava que 15 crianças especiais não seriam diferentes dos outros pacientes que havia cuidado. Na primeira semana, ela mudou de opinião. As crianças Pereira não se comportavam como pacientes, não brincavam, não brigavam, não choravam por atenção. Elas simplesmente existiam em sincronia perfeita, como uma única criatura dividida em 15 corpos.
Dormiam no mesmo horário, acordavam juntas, comiam a mesma quantidade de comida e quando uma ficava doente, todas apresentavam os mesmos sintomas. Irmã Dolores havia trabalhado com gêmeos antes, mas isso era diferente, isso era impossível. O primeiro fenômeno estranho aconteceu numa tarde de fevereiro.
Irmã Dolores estava organizando medicamentos na enfermaria quando todas as luzes do pavilhão das crianças se apagaram apenas naquele pavilhão. O resto da instituição permaneceu iluminado. Ela chamou o eletricista da cidade. Ele verificou a fiação, os fusíveis, as conexões. Tudo estava funcionando perfeitamente. Mas as luzes simplesmente não acendiam.
Era como se a eletricidade evitasse aquele lugar. O problema durou três dias. No quarto dia, as luzes voltaram sozinhas. Ninguém tocou em nenhum equipamento, ninguém fez nenhum reparo. Elas apenas decidiram funcionar novamente. Coisa estranha, comentou o eletricista com irmã Dolores. Nunca vi nada parecido em 30 anos de profissão, mas esse foi apenas o começo.
No inverno de 1973, os funcionários começaram a relatar mudanças de temperatura inexplicáveis. O pavilhão das crianças se tornava gelado durante a noite. Não frio normal de inverno mineiro, frio que cortava os ossos, frio que fazia a respiração virar vapor mesmo dentro dos quartos. O sistema de aquecimento funcionava normalmente, os termômetros marcavam temperatura normal, mas quem entrava no pavilhão sentia como se estivesse numa câmara frigorífica.
A enfermeira Helena Carvalho foi a primeira a documentar o fenômeno oficialmente. Em seu relatório de junho de 1973, ela escreveu: Temperatura ambiente normal segundo instrumentos, porém sensação térmica incompatível com leituras. Solicitamos verificação de equipamentos. A verificação foi feita. Os equipamentos estavam perfeitos, mas o frio continuou. e piorou.
Durante o outono, objetos começaram a se mover sozinhos no pavilhão. Nunca nada dramático. Uma cadeira que girava alguns graus durante a noite, uma xícara que mudava de lugar na mesa, uma porta que se fechava lentamente, sem vento, sem corrente de ar. Os funcionários notaram, mas não comentavam. Em 1973, questionar fenômenos estranhos em instituições estatais era perigoso.
Era melhor fingir que não havia visto nada, exceto pela zeladora Maria José Santos, uma mulher simples, devota, que trabalhava no turno da madrugada. Em agosto de 1973, ela fez um relato que mudou tudo. Maria José estava limpando o corredor quando ouviu vozes vindas do dormitório das crianças. Não era incomum.
Às vezes elas sussurravam entre si. Mas aquela noite era diferente. As vozes pareciam múltiplas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Ela se aproximou da porta e escutou, reconheceu as vozes das 15 crianças, mas elas estavam falando numa língua que ela nunca havia ouvido. Não era português, não era inglês, não era nenhum idioma que ela conseguisse identificar e todas falavam em uníssono. as mesmas palavras, no mesmo ritmo, como um couro ensaiando.
Maria José abriu a porta devagar. As 15 crianças estavam deitadas em suas camas, olhos fechados, aparentemente dormindo, mas suas bocas se moviam e as vozes continuavam. Ela ficou observando por 5 minutos. As crianças falavam dormindo em língua desconhecida, com sincronia perfeita, como se estivessem recitando algo, algo importante, algo antigo.
Quando Maria José fechou a porta e se afastou, as vozes pararam imediatamente. Ela relatou o incidente para a irmã Dolores. A diretora anotou no arquivo, mas não tomou nenhuma providência. Que providência poderia tomar? Como se explica crianças que falam línguas inexistentes durante o sono? Os meses passaram e os fenômenos se intensificaram.
Em 1974, os funcionários começaram a relatar sensação de estar sendo observados mesmo quando estavam sozinhos, mesmo quando as crianças estavam visivelmente dormindo ou em outras dependências. A sensação era constante, opressiva, como olhos invisíveis acompanhando cada movimento.

Dois funcionários pediram transferência, alegaram motivos pessoais. Na verdade, não conseguiam mais trabalhar naquele ambiente. A tensão estava afetando seu sono, sua saúde mental, seus relacionamentos familiares. Irmã Dolores teve que contratar substitutos, mas era difícil manter pessoal.
A rotatividade era alta, as pessoas chegavam dispostas a trabalhar, mas depois de algumas semanas arranjavam desculpas para sair. Apenas alguns funcionários permaneceram, os que se adaptaram ao ambiente estranho, ou os que precisavam desesperadamente do emprego. Foi um desses funcionários, o auxiliar de enfermagem João Batista Silva, que documentou o evento mais perturbador de 1974. Era uma noite de setembro.
João Batista estava fazendo a ronda noturna quando encontrou as 15 crianças fora de suas camas. Elas estavam em pé no corredor, organizadas em semicírculo de frente para a parede. Não era incomum elas se organizarem em semicírculo. Faziam isso desde que chegaram, mas nunca à meia-noite, nunca no corredor e nunca olhando fixamente para uma parede em branco.
João Batista se aproximou devagar. Meninas, meninos, o que estão fazendo aqui? Elas não responderam. continuaram olhando para a parede. Ele chegou mais perto e seguiu o olhar delas. Na parede branca não havia nada, nenhum quadro, nenhuma marca, nenhum objeto que justificasse tamanha atenção. “Vocês estão vendo alguma coisa?”, perguntou a mais velha, sem desviar o olhar da parede, sussurrou: “Estão voltando, Moa! Quem está voltando? Os que vieram antes.
João Batista sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem veio antes? Mas as crianças não responderam mais. Ficaram ali por mais uma hora, olhando para a parede em branco. Depois, silenciosamente voltaram para suas camas. João Batista passou o resto da noite acordado observando o corredor. Não viu nada, mas a sensação de estar sendo observado foi mais intensa que nunca.
No relatório oficial, ele escreveu: “Pacientes demonstraram comportamento atípico durante a madrugada, possível episódio de sonambulismo coletivo. No relatório que nunca enviou, ele escreveu: “Essas crianças estão vendo coisas que não existem ou estão vendo coisas que nós não conseguimos ver”. e então acrescentou numa letra nervosa: “Não sei qual opção é pior.
” Em 1975, algo fundamental mudou no comportamento das crianças Pereira. Depois de 2 anos de sincronia perfeita, elas começaram a desenvolver pequenas diferenças individuais. Uma das meninas passou a desenhar obsessivamente. Pedia papel e lápis constantemente. Desenhava símbolos estranhos que não pareciam alfabeto de nenhuma cultura conhecida.
Símbolos que fluíam pela página como se tivessem vida própria. Um dos meninos mais velhos começou a passar horas olhando pela janela, não observando a paisagem, apenas olhando, como se esperasse ver algo específico, algo que ainda não havia chegado. Outra menina parou de comer carne.
Recusava qualquer alimento que não fosse vegetal cultivado em solo natural. rejeitava comida industrializada, enlatados, qualquer coisa que não viesse diretamente da Terra. Irmã Dolores ficou preocupada. A sincronia era estranha, mas previsível. A individualização era nova e imprevisível.
Ela ligou para os superiores em Belo Horizonte, relatou as mudanças, perguntou se deveria tomar alguma providência. A resposta foi clara. Apenas observe e documente. Não interfira no processo natural. Processo natural. Como se houvesse algo natural no que estava acontecendo em São Bento. Mas irmã Dolores obedeceu, observou, documentou e esperou.
Esperou para descobrir o que acontece quando crianças que nasceram para ser uma só começam a se tornar 15. E em março de 1976, ela descobriu: “Duas das crianças morreram na mesma noite, sem doença, sem trauma, sem explicação médica. Simplesmente pararam de viver como se a individualidade fosse veneno para suas naturezas originais. A morte chegou numa terça-feira de março de 1976. Silenciosa, inexplicável e dupla.
Irmã Dolores encontrou Sebastiana e Valdemar em suas camas pela manhã. Posição idêntica, deitados de costas, mãos cruzadas sobre o peito, olhos abertos fitando o teto. Pareciam estar dormindo, não fosse o fato de que não respiravam há horas.
Doutor Eliseu Moreira, médico da região, foi chamado para atestar os óbitos. Homem experiente, já havia visto muitas mortes, mas nunca uma como aquela. Os corpos não apresentavam sinais de luta, doença ou trauma. A temperatura corporal estava normal. Não havia rigidez cadavérica. Era como se tivessem simplesmente decidido parar de viver ao mesmo tempo, no mesmo horário, da mesma forma incompreensível.
“Qual a causa da morte, doutor?”, perguntou irmã Dolores. Dr. Moreira hesitou. Em seus 20 anos de medicina, sempre conseguira identificar uma causa. Sempre houve uma explicação lógica, científica, documentável. Parada cardiorrespiratória. Ele finalmente respondeu. Era a verdade técnica, mas não explicava porque dois corações saudáveis simplesmente pararam de bater na mesma noite.
O que, doutor Moreira não documentou, foi sua observação mais perturbadora. Quando ele tocou os corpos para examiná-los, as outras 13 crianças se viraram simultaneamente na direção do dormitório, todas ao mesmo tempo, como se soubessem exatamente o momento em que mãos estranhas tocavam seus irmãos mortos.
Elas estavam do outro lado do edifício. Não havia como ter visto ouvido o que acontecia, mas elas sabiam. Os corpos de Sebastiana e Valdemar foram enterrados no cemitério local. Irmã Dolores providenciou uma cerimônia simples. As outras crianças assistiram em silêncio absoluto. Não choraram. Não se consolaram.
Apenas observaram a terra cobrindo os caixões como quem assiste a um filme que já conhece o final. Quando voltaram para São Bento, algo fundamental havia mudado no grupo. As crianças que antes se moviam como organismo único, agora pareciam desconectadas, perdidas, como membros amputados tentando funcionar independentemente. A menina, que desenhava símbolos, começou a desenhar mais freneticamente, página após página de marcas estranhas que pareciam gritos silenciosos.
Os símbolos se tornaram mais complexos, mais urgentes, como se ela estivesse tentando traduzir algo que estava se perdendo. O menino que olhava pela janela começou a chorar. Não lágrimas normais de tristeza, eram lágrimas constantes, involuntárias, como se seus olhos não conseguissem mais conter alguma pressão interna.
Então, em maio de 1976, aconteceu algo que fez irmã Dolores entender a dimensão real do que estava enfrentando. Uma das meninas, Lindaura, aproximou-se dela numa tarde de outono. Seu rosto, normalmente inexpressivo, mostrava sinais de confusão profunda. “Irmã”, ela sussurrou. “Eu não sei quem eu sou.
” Irmã Dolores pousou a mão no ombro da menina. “Você é lindaura. Você está aqui conosco em segurança. A menina balançou a cabeça frustrada. Não, eu sempre soube quem eu era. Eu era nós. Agora eu sou só de isto. Ela apontou para o próprio corpo como se fosse algo estranho, alienígena. e não sei o que fazer com isto. Foi nesse momento que irmã Dolores compreendeu a tragédia real que estava presenciando.
Aquelas crianças não estavam aprendendo a ser indivíduos. Elas estavam morrendo por dentro, peça por peça. Nos meses seguintes, o processo se acelerou. Odilyon começou a se confundir sobre sua própria identidade. Um dia insistia que era Cleonice. No outro jurava que era Arlindo. Passava horas se olhando no espelho, tocando o rosto como se fosse de outra pessoa.
Magnólia parou de reconhecer as outras crianças. Olhava para elas como estranhas. Perguntava quem eram, por estavam ali. Porque ela deveria conhecê-las. E divino, divino começou a acreditar que havia morrido anos antes, que a pessoa caminhando em seu corpo era outra, alguém que havia tomado seu lugar quando ele não estava prestando atenção. Dr.
Moreira foi chamado novamente, desta vez para avaliar o estado mental das crianças. Ele havia estudado psiquiatria básica na faculdade, mas nada o havia preparado para aquilo. “É como se estivessem perdendo a noção de self”, ele explicou para a irmã Dolores. “Como se a identidade individual fosse um conceito completamente alienígena para elas.
Isso é possível psicologicamente?” Dr. Moreira hesitou. Teoricamente não. Crianças desenvolvem senso de identidade individual nos primeiros anos de vida. É instintivo, biológico. Não deveria ser possível perdê-lo desta forma. Ele parou, olhando pela janela para o pátio, onde as crianças restantes caminhavam em círculos desorganizados, exceto se elas nunca tiveram identidade individual para começar, se elas sempre foram outra coisa.
A situação piorou rapidamente após essa conversa. Em agosto de 1976, Eurides foi encontrada no banheiro, olhando para o espelho e repetindo: “Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ela havia passado seis horas fazendo a mesma pergunta para o próprio reflexo. Quando irmã Dolores tentou tirá-la de lá, Eurides entrou em pânico.
Gritou que não sabia como sair do banheiro, que não lembrava como suas pernas funcionavam, que não conseguia entender como comandar aquele corpo estranho. Duas enfermeiras foram necessárias para carregá-la de volta ao dormitório. Ela morreu três dias depois. durante o sono, sem explicação médica, sua morte desencadeou uma reação em cadeia nas crianças restantes.
Honorina começou a se machucar deliberadamente, não por dor emocional, mas por curiosidade científica. Ela cortava os dedos para ver se sangravam, beliscava a pele para testar se sentia, como se estivesse explorando um corpo que não reconhecia como próprio. Felisberto parou de comer, não por falta de apetite. Ele simplesmente esqueceu como a comida funcionava. olhava para o garfo sem entender sua função. Mastigava mecanicamente, mas esquecia de engolir.
E Azira, Azira começou a falar sozinha, mas não eram monólogos, eram diálogos. Ela falava com vozes diferentes, como se várias pessoas estivessem conversando através dela. Às vezes as vozes discutiam entre si, às vezes choravam juntas, às vezes gritavam em linguagens que nenhum funcionário conseguia identificar. Doutor Moreira aumentou a frequência de suas visitas.
Tentou sedativos, tentou terapia ocupacional, tentou tudo que sua formação médica oferecia. Nada funcionou. As crianças continuaram deteriorando, não fisicamente, mentalmente, como se suas mentes estivessem se fragmentando em pedaços cada vez menores. Em dezembro de 1976, apenas nove crianças permaneciam vivas.
Em junho de 1977 eram seis. Em dezembro de 1978 restavam quatro. Cada morte seguia o mesmo padrão, sem doença, sem trauma, apenas o fim súbito de funções vitais que não conseguiam mais sustentar uma existência individual. Irmã Dolores documentou tudo meticulosamente. Enviou relatórios mensais para Belo Horizonte. Descreveu os sintomas, as mortes, a deterioração progressiva.
Pediu orientação, sugeriu transferência para hospitais especializados. A resposta era sempre a mesma. Continue observando. Mantenha os sujeitos confortáveis. documente todo comportamento anômalo. Sujeitos, não crianças, não pacientes. Sujeitos, como se o Estado já soubesse que aqueles seres humanos eram, na verdade, algo diferente, algo que precisava ser estudado, não tratado.
E assim, São Bento se tornou um necrotério lento, um lugar onde a morte chegava parcelada, levando pedaços de algo que nunca deveria ter sido dividido. Em 1979 restavam apenas quatro crianças. Din Norá, Neusa, Valdomiro e Terezinha. Elas se sentavam juntas no refeitório, mas não se reconheciam.
Caminhavam lado a lado no pátio, mas eram estranhas entre si. Dormiam no mesmo dormitório, mas sonhavam separadamente. E nas madrugadas silenciosas de São Bento, irmã Dolores às vezes ouvia sussurros vindos do quarto delas. Não conversas, apenas sussurros, como ecos única voz, agora quebrada em fragmentos que não conseguiam mais se reunir.
Ela sabia que estava assistindo ao fim de algo, não apenas as mortes de crianças traumatizadas, mas o fim de uma forma de existência que nunca deveria ter sido descoberta e que definitivamente nunca deveria ter sido separada. O ano de 1980 trouxe uma decisão que mudaria o destino das quatro crianças sobreviventes.
O governo federal, pressionado por custos crescentes e questionamentos internos, determinou o fechamento da Casa de repouso São Bento, oficialmente por otimização de recursos públicos, na realidade, porque ninguém sabia mais o que fazer com Dinorá, Neusa, Valdomiro e Terezinha. 14 anos haviam passado desde a descoberta na fazenda Pedra do Silêncio.
Das 15 crianças originais, apenas quatro resistiram ao processo de individualização forçada. Mas resistir não significava prosperar. Elas haviam sobrevivido, porém como fragmentos quebrados de algo que um dia foi inteiro. Dr. Cláudio Mendes, novo coordenador do programa de ressocialização, chegou a São Bento em março para avaliar a situação.
Psicólogo formado pela USP, especialista em reintegração social de pacientes psiquiátricos. Ele acreditava que ciência e persistência podiam resolver qualquer problema humano. Três meses depois, ele mudaria completamente essa perspectiva. Quatro crianças, agora jovens adultos entre 20 e 30 anos, embora parecessem ter idades diferentes de suas cronológicas, foram submetidas à bateria extensa de testes, avaliação psicológica, teste de QI, avaliação de habilidades sociais, exames médicos completos. Os resultados foram
contraditórios ao ponto da impossibilidade. De Norá demonstrava inteligência superior em algumas áreas. e déficit severo. Em outras, conseguia resolver problemas matemáticos complexos, mas não entendia o conceito de propriedade pessoal.
Falava fluentemente, mas quando perguntada sobre seus desejos pessoais, ficava genuinamente confusa, como se a pergunta não fizesse sentido. Neusa apresentava memória fotográfica para eventos que havia presenciado, mas não conseguia formar memórias novas. Lembrava perfeitamente de cada dia em São Bento desde 1973, mas esquecia conversas cinco minutos depois de acontecerem.
Valdomiro tinha coordenação motora perfeita para algumas atividades. Conseguia desenhar com precisão milimétrica, mas tropeçava constantemente ao caminhar, como se ainda estivesse aprendendo a usar as próprias pernas. E Terezinha. Terezinha falava sozinha constantemente, mas Dr. Mendes descobriu que não eram monólogos.
Ela respondia a vozes que só ela ouvia, vozes que conheciam detalhes íntimos de sua vida que ela nunca havia compartilhado. “É como se cada uma fosse uma peça de quebra-cabeça”, Dr. Mendes anotou em seu relatório. “Peças que se encaixavam perfeitamente quando estavam juntas, mas que sozinhas não formam imagem reconhecível.
O programa de ressocialização foi implementado mesmo assim. As quatro foram transferidas para um lar assistido em Pouso Alegre. Receberam documentos de identidade novos. Foram matriculadas em cursos básicos de alfabetização e habilidades sociais. O objetivo era prepará-las para viver independentemente na sociedade.
Era um objetivo impossível, mas ninguém havia entendido isso ainda. Deorá foi a que melhor se adaptou inicialmente. Conseguiu emprego como auxiliar de limpeza no hospital municipal. Trabalho simples, repetitivo, que não exigia iniciativa pessoal. Ela executava as tarefas com precisão robótica, mas os supervisores notaram peculiaridades estranhas.
Ela limpava seguindo padrões geométricos perfeitos. Nunca avariaçava a sequência. Começava sempre pelo mesmo ponto. Seguia sempre o mesmo caminho. Terminava sempre no mesmo local. Se alguém interrompia sua rotina, ela ficava completamente perdida e tinha que recomeçar do início. Mais estranho ainda.
Ela trabalhava de madrugada quando o hospital estava vazio. Durante o dia, ficava agitada, ansiosa, como se a presença de muitas pessoas fosse fisicamente dolorosa para ela. A supervisora Helena Campos relatou: “De Norá é a funcionária mais pontual e eficiente que já tive, mas às vezes a encontro parada nos corredores, olhando para o nada, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais consegue perceber.” Valdomiro tentou trabalhar como ajudante em uma oficina mecânica.
Sua coordenação motora era impressionante. Conseguia montar motores com precisão de especialista. mas não conseguia interagir com clientes. Ficava em pânico quando pessoas faziam perguntas diretas e tinha ataques de ansiedade se precisava tomar decisões sozinho. O dono da oficina, Sr.
José Mourão, inicialmente ficou impressionado com as habilidades de Valdomiro. “O rapaz tem mãos de ouro”, comentou com vizinhos. Nunca vi alguém trabalhar com máquinas daquele jeito. Mas depois de três meses, ele começou a se preocupar. Valdomiro conversa com as ferramentas. Ele confidenciou para sua esposa. Não brincadeira, conversa mesmo.
Como se elas respondessem. E às vezes juro que ouço vozes vindas da oficina quando sei que ele está lá sozinho. Neusa foi direcionada para trabalho doméstico. Mostrou habilidades excepcionais para organização e limpeza, mas apresentava comportamentos que deixavam as famílias desconfortáveis.
Ela sabia coisas sobre as casas que não deveria saber. Encontrava objetos perdidos sem nunca ter visto onde foram guardados. conseguia prever quando equipamentos quebrariam dias antes de apresentarem problemas. E às vezes era encontrada conversando com espelhos, como se houvesse pessoas do outro lado. A senora Carmen Oliveira, uma de suas empregadoras, relatou: “Nusa fazia o trabalho de três pessoas.
A casa nunca esteve tão organizada, mas era perturbador. Ela sabia quando meu marido estava chegando antes dele aparecer na rua. Sabia quando o telefone ia tocar. E uma vez a encontrei chorando na sala, dizendo que sentia falta de seus irmãos. Quando perguntei onde eles estavam, ela disse que tinham se perdido no silêncio. Terezinha foi o caso mais problemático.
Não conseguiu manter nenhum emprego. Passava dias inteiros parada em praças públicas falando com pessoas invisíveis. Os moradores locais começaram a chamá-la de a louca das vozes. Ela foi internada brevemente no hospital psiquiátrico regional. Os médicos tentaram medicação antipsicótica. O resultado foi desastroso.
Com os medicamentos, ela parava de conversar com as vozes invisíveis, mas também parava de comer, de se mover, de reagir a estímulos externos. Era como se a medicação cortasse sua conexão não apenas com alucinações, mas com a própria vida. Dr. Fernando Ramos, psiquiatra responsável, anotou: “Pciente apresenta quadro atípico. Medicação antipsicótica resulta em catatonia severa.
Sem medicação, demonstra comportamento delirante, mas funcional. Paradoxo clínico sem precedentes na literatura médica. Em 1985, o experimento de ressocialização foi oficialmente considerado fracasso. Das quatro últimas crianças Pereira, nenhuma conseguira se integrar completamente à sociedade.
Elas funcionavam nas margens, executando tarefas simples, vivendo vidas solitárias, sempre parecendo estar esperando algo que nunca chegava. Foi nesse período que começaram as perdas finais. Valdomiro foi o primeiro. Em uma manhã de junho de 1987, ele simplesmente saiu de sua pensão em Pouso Alegre e caminhou para a mata. Várias pessoas o viram seguindo a trilha que levava às montanhas.
Caminhava com determinação, como se soubesse exatamente para onde ia. Equipes de busca procuraram por duas semanas. encontraram suas roupas dobradas cuidadosamente numa clareira, mas nenhum sinal do corpo, como se ele tivesse se despido e se dissolvido na floresta. Terezinha morreu em 1989, oficialmente de pneumonia, mas as enfermeiras do hospital relataram que nos últimos dias ela havia parado de falar com as vozes invisíveis.

pela primeira vez em anos, ficou completamente silenciosa e então, numa manhã de inverno, simplesmente não acordou. Neusa resistiu até 1994. Viveu sozinha num apartamento pequeno, sustentada por auxílio governamental. Os vizinhos a descreviam como mulher quieta, estranha, mas inofensiva. Ela morreu dormindo, sem doença aparente, sem trauma, encontrada três dias depois por um fiscal de saúde que fazia visita de rotina.
E então restou apenas de Norá, a última, a única sobrevivente da fazenda Pedra do Silêncio, a única depositária de segredos que nenhum documento oficial jamais registrou. Durante os anos 1990 e 2000, Dinorá viveu como fantasma na sociedade brasileira. Mudou de cidade várias vezes, trabalhou em empregos temporários, evitou relacionamentos, evitou atenção, como se soubesse instintivamente que sua existência era a anomalia que o mundo não estava preparado para compreender.
Mas isolamento tem limites e solidão, mesmo para alguém que nasceu para ser parte de algo maior, eventualmente cobra seu preço. Em 2016, aos 52 anos aparentes, embora os registros indicassem que deveria ter bem mais, Dinorá tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela decidiu contar sua história. Se essa história te tocou, se inscreva no canal. Compartilhamos essas verdades esquecidas toda semana.
A última filha dos Pereira estava pronta para revelar o que realmente aconteceu naquela fazenda abandonada. o que realmente eram aquelas crianças e por algumas verdades são perigosas demais para serem esquecidas. Mas primeiro ela precisava encontrar alguém corajoso o suficiente para ouvir. Rogério Drumon nunca acreditou em histórias de fantasma.
Como jornalista investigativo do Estado de Minas, ele havia passado 15 anos desmascarando fraudes, expondo corrupção e desmistificando lendas urbanas. Sua especialidade era encontrar a verdade racional por trás dos mistérios aparentemente inexplicáveis. Em 2015, quando começou a pesquisar famílias isoladas do interior para um livro sobre comunidades esquecidas de Minas Gerais, ele não esperava encontrar nada além de folclore rural e recordações nostálgicas.
A primeira referência aos Pereira apareceu num arquivo digitalizado do Fórum de São Roque de Minas, um processo judicial de 1973 parcialmente censurado, que mencionava 15 menores em situação irregular encontrados numa propriedade rural abandonada. A maioria dos detalhes havia sido riscada com tinta preta, mas restavam pistas suficientes para despertar sua curiosidade profissional.
Durante se meses, Rogério rastreou documentos, entrevistou ex-funcionários aposentados e seguiu trilhas burocráticas que pareciam deliberadamente obscurecidas. Cada pista levava a outra pista. Cada documento revelava mais perguntas que respostas.
Ele encontrou certidões de óbito sem causa de morte especificada, registros médicos com páginas arrancadas, relatórios psiquiátricos que descreviam sintomas impossíveis em linguagem cientificamente cautelosa. E então, em março de 2016, ele encontrou uma pista diferente, uma conta de luz em nome de Dinorá Santos, endereço em Governador Valadares. O sobrenome havia mudado, mas a idade batia com suas estimativas.
E havia algo familiar na fotografia anexada ao cadastro da companhia elétrica. aqueles olhos fundos, aquela expressão distante. Rogério passou três semanas localizando o endereço correto. De Norá vivia num apartamento pequeno no centro da cidade, sustentada por auxílio doença. Seus vizinhos a descreviam como mulher reservada, educada, que trabalhava esporadicamente como diarista, mas evitava conversas pessoais.
Ele enviou cartas por seis meses antes dela concordar em se encontrar. O encontro aconteceu numa lanchonete simples próxima à rodoviária. Rogério chegou 15 minutos adiantado, nervoso como adolescente, indo ao primeiro encontro. Não sabia exatamente o que esperar. Décadas de isolamento poderiam ter criado uma mulher perturbada, confusa, traumatizada demais para fornecer informações úteis.
de Norá chegou pontualmente às 2as da tarde. Aparentava 40 anos, embora os registros indicassem 52. Cabelos pretos sem fio gris, pele lisa demais para sua idade real. E aqueles olhos profundos, inteligentes, conscientes. Eles se cumprimentaram formalmente. Ela pediu café preto, ele refrigerante.
Durante os primeiros minutos, conversaram sobre amenidades, o tempo, a cidade, assuntos seguros que não tocavam no passado. Foi de Norá, quem finalmente abriu o assunto real. “Você quer saber sobre minha família?”, Ela disse, sem preâmbulo sobre o que aconteceu na fazenda. Sim, Rogério respondeu, ligando discretamente o gravador.
Se você estiver confortável para conversar sobre isso. De Norá sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, carregado de décadas de segredos. Confortável não é a palavra certa, mas necessário, talvez. O que ela contou nas próximas três horas mudou completamente a compreensão de Rogério sobre a natureza da realidade. “Nós não éramos uma família no sentido que você entende”, ela começou.
“Éramos algo mais antigo, algo que seus ancestrais teriam chamado de outras palavras.” Ela explicou que os Pereira chegaram à Serra da Canastra no final do século XVI, não fugindo da pobreza ou perseguição política, fugindo de algo muito mais fundamental, da modernidade que estava acabando com as formas antigas de existência.
Meus ancestrais não se reproduziam como outras pessoas. Eles continuavam. Quando precisavam de mais membros para a comunidade, realizavam rituais que você chamaria impossíveis. Misturavam sangue com terra da fazenda, falavam palavras numa língua que existia antes do português. E crianças apareciam.
Apareciam como? Cresciam da terra como plantas, mas cresciam já formadas, já conscientes, já conectadas ao que vieram antes. De Norá pausou, mexendo o café que não bebia. Nós compartilhávamos uma única consciência, 15 corpos, uma mente, 15 vozes, um pensamento. Rogério sentiu um arrepio percorrer a espinha.
A explicação era absurda, impossível, mas a certeza na voz de Din Norá, a precisão de detalhes, a consistência com documentos que ele havia encontrado. Por que vocês foram descobertos em 1972? Porque algo deu errado. O rosto de Din Norá se contraiu numa expressão de dor profunda. Os rituais pararam de funcionar nos anos 1940. Não sabemos porquê. Talvez a Terra tenha mudado. Talvez o mundo moderno tenha interferido nas energias necessárias.
Os mais velhos morreram sem conseguir criar novos membros. E vocês, 15, éramos os últimos. Criados na década de 1920, quando os rituais ainda funcionavam. Mas sem renovação, começamos a diminuir. A conexão ficou mais fraca e quando nos encontraram já estávamos morrendo.
Ela explicou que a separação forçada pelo Estado acelerou um processo que já estava acontecendo naturalmente. Éramos como um organismo sendo dessecado vivo. Cada vez que morriam pedaços de nós, o resto ficava mais fragmentado. Por que você sobreviveu quando os outros morreram? De Norá ficou em silêncio por muito tempo.
Quando finalmente respondeu, sua voz estava quase inaudível, porque eu aprendi a esquecer. Os outros se agarraram ao que éramos antes. Eu escolhi me tornar isto, ela apontou para si mesma. Uma pessoa normal, ou pelo menos fingir ser. Mas você nunca esqueceu realmente. Não. E eles também não morreram realmente. Eu ainda os ouço às vezes nas madrugadas quietas, vozes sussurrando numa língua que não existe mais.
Me chamando para casa, para a fazenda, para o lugar de onde viemos, antes da fazenda, antes do Brasil, antes dos nomes que os humanos deram para as coisas. Rogério desligou o gravador quando percebeu que suas mãos estavam tremendo. A história era impossível, mas impossível não significava falsa. Eles se encontraram mais duas vezes nos meses seguintes.
Dinorá forneceu detalhes que ele conseguiu confirmar através de documentos oficiais, datas precisas, nomes de funcionários, descrições de eventos que constavam em relatórios selados. Ela também lhe deu algo mais, símbolos. Os mesmos símbolos que uma das crianças desenhava obsessivamente em São Bento.
Símbolos que pareciam instruções para algo. Receitas, rituais. “Não tente decifrar”, ela alertou. Alguns conhecimentos não foram feitos para mentes individuais. Em dezembro de 2017, Rogério recebeu uma ligação da Polícia Civil de Governador Valadares. De Norá havia sido encontrada morta em seu apartamento.
Causa da morte, parada cardíaca, nenhum sinal de violência ou doença. Ele foi ao funeral. Seis pessoas compareceram. Ele, um padre, dois vizinhos curiosos e dois homens de terno que não se identificaram. Quando o caixão foi baixado à terra, Rogério jurou sentir algo mudar no ar, uma pressão liberada, um peso removido, como se alguma força antiga finalmente tivesse permissão para descansar.
Mas no caminho de volta para Belo Horizonte, ele começou a questionar sua própria sanidade. A história de Dinorá era fantasiosa demais para ser verdade. Rituais que criavam pessoas da Terra, consciência coletiva, era material para ficção científica, não jornalismo sério. Ele decidiu arquivar as gravações, esquecer o projeto, seguir em frente com trabalhos mais convencionais.
Durante trs anos, essa decisão pareceu sensata até 2020, quando recebeu uma ligação de um pesquisador da UFMG. Senr. Drumund, meu nome é Dr. Paulo Henrique Silva, do Departamento de Antropologia. Estamos investigando arqueológicos na Serra da Canastra e encontramos algo incomum. Descobrimos que o senhor pesquisou a região anteriormente.
Que tipo de coisa em comum? Ruínas de uma construção que não deveria existir. Datação por carbono indica século XVI, mas a arquitetura, bem, não é de nenhuma cultura conhecida. E há símbolos gravados nas pedras, símbolos que não conseguimos identificar. Rogério sentiu o sangue gelar.
Que tipo de símbolos? complexos, organizados, como se fossem instruções para algum processo. O senhor teria interesse em ver? Duas semanas depois, Rogério estava de volta à Serra da Canastra. A escavação arqueológica ficava a menos de 3 km da antiga fazenda Pedra do Silêncio. O que ele viu lá mudou sua perspectiva, sobretudo as ruínas eram impossíveis.
Pedras cortadas com precisão que a tecnologia do século XVII não permitia. Câmaras subterrâneas organizadas em padrões geométricos que pareciam ter função específica. E por toda parte, gravados na rocha os símbolos que Dinorá havia desenhado décadas antes. Dr. Silva estava genuinamente perplexo. Nunca vimos nada parecido no Brasil.
A técnica de construção não corresponde a nenhuma cultura indígena conhecida e os símbolos parecem muito antigos, mas também muito avançados. Rogério fotografou tudo, comparou com os desenhos que havia guardado. A correspondência era perfeita. Naquela noite, sozinho no hotel em São Roque de Minas, ele tomou uma decisão. Queimou todas as gravações, destruiu todas as anotações, apagou todos os arquivos digitais relacionados à pesquisa sobre a família Pereira.
Algumas verdades, ele percebeu, são perigosas demais para serem reveladas. Algumas portas não devem ser abertas e algumas histórias são melhor esquecidas antes que alguém descubra como torná-las realidade novamente. Rogério Drumont nunca mais pesquisou comunidades isoladas.
Mudou-se para São Paulo, passou a cobrir economia e política. assuntos seguros, assuntos que não envolviam rituais antigos ou crianças que cresciam da terra. Mas às vezes, nas madrugadas silenciosas, ele ainda ouvia vozes sussurrando numa língua que não existia mais. Vozes que o chamavam de volta para as montanhas, para os segredos que escolheu enterrar.
E ele sempre resistia, porque algumas coisas que morrem devem permanecer mortas. Algumas linhagens que se extinguem não devem ser renovadas e alguns silêncios são mais valiosos que qualquer verdade. Se essa história já te arrepiou até aqui, compartilhe o vídeo para que mais gente descubra essa parte esquecida do país.
Existem inúmeras histórias não contadas esperando para serem ouvidas. Toda semana trazemos vozes que o mundo tentou esquecer. A Terra guarda memórias. que nós preferimos não lembrar. E às vezes o esquecimento é a única proteção que temos contra verdades que nunca deveríamos ter descoberto. A história dos Pereira terminou com dinorá. Pelo menos é o que esperamos.
Pelo menos é o que escolhemos acreditar. Yeah.