
Os 5 Atos Íntimos do Rei Afeminado e Seu Terrível Fim com uma Haste em Brasa
No dia 21 de setembro de 1327, os gritos dilacerantes de um homem ecoaram pelas muralhas espessas do castelo de Berkley, na Inglaterra. Aqueles que os ouviram…

Maria Stuart: traída, banida, executada
Inglaterra, 1588. Há três décadas, Elisabeth I governa o reino. Contudo, à noite, ela não encontra paz. Repetidamente, o rosto de sua prima, Maria Stuart, aparece em…

Três vezes em uma única noite diante de todos: O casamento mais sombrio do Vaticano
No coração do Palácio Apostólico, a noite de 30 de outubro de 150 caiu como um véu espesso sobre os corredores onde normalmente ressoavam orações. Aquele silêncio…

O Que Os Revolucionários Franceses Fizeram Com Maria Antonieta Foi Pior Que A Morte
Existe uma cela estreita e úmida nas profundezas da Conciergerie, a prisão medieval de Paris, que ainda hoje pode ser visitada. As paredes de pedra mantêm manchas…

O Aterrorizante Ritual da Noite de Núpcias que Roma Tentou Apagar da História
No dia 25 de outubro de 1533, enquanto os sinos da Basílica de Santa Maria Maggiore ainda ecoavam pela cidade de Roma, uma jovem de apenas 14…

O Rei Mais Depravado da História: A História Sombria de Xerxes
No ano de 486 aes de. Crist, as muralhas do Palácio de Persépolis ecoavam com gritos que não eram de guerra, mas de algo muito mais sombrio….

As Práticas S3xuais Mais Aterrorizantes da Grécia Antiga
No ano de 416 a de. Crist, nas ruas iluminadas por tochas de Atenas, a cidade que se proclamava berço da democracia e da filosofia, um jovem…
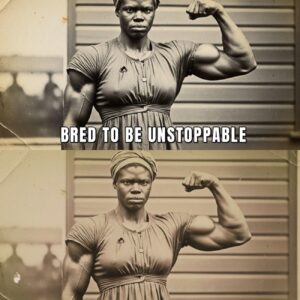
A incrível história da escrava mais musculosa já criada na Geórgia — 1843
Ao longo das plantações costeiras do Condado de Macintosh, Geórgia, registros da década de 1830 contêm uma notação peculiar que aparece em 17 livros-razão diferentes. Medidas das…

23 Bebês Mortos O Segredo da Parteira Alegria a parteira Mais Procurada – 1875
E se eu te dissesse que nos tempos da escravidão existia uma mulher negra que era mais procurada que os médicos da cidade, mais respeitada que muitos…

O Fazendeiro Que Chicoteava Víúvas com fome — Lampião Deu a Ele o Mesmo Gosto do Chicote
O fazendeiro, que chicoteava viúvas com fome, Lampião, deu a ele o mesmo gosto do chicote. Um fazendeiro cruel do interior de Sergipe tinha o hábito de…