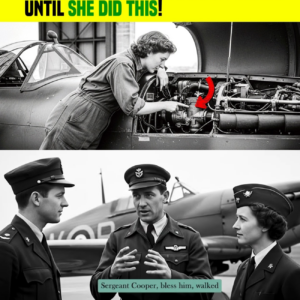
Pilotos alemães riam-se dos “Red Tails” da América – até acumularem mais de 100 abates
Pilotos alemães riam-se dos “Red Tails” da América – até acumularem mais de 100 abates Em 1942, no frio cortante de Buffalo, Nova Iorque, as nossas fábricas…

Pilotos alemães riam-se dos “Red Tails” da América – até acumularem mais de 100 abates
Pilotos alemães riam-se dos “Red Tails” da América – até acumularem mais de 100 abates Em 1942, no frio cortante de Buffalo, Nova Iorque, as nossas fábricas…

O que Hitler realmente disse quando soube do Dia D
O que Hitler realmente disse quando soube do Dia D A 6 de junho de 1944, o destino do mundo livre foi decidido nas sangrentas praias da…

O erro de um piloto alemão deu à América o seu caça ultrassecreto — e mudou a guerra
O erro de um piloto alemão deu à América o seu caça ultrassecreto — e mudou a guerra Nos céus da França ocupada em 1942, os pilotos…

Eles riram do pior avião da América — até ele reescrever a história
Eles riram do pior avião da América — até ele reescrever a história Em 1942, no frio congelante de Buffalo, Nova York, nossas fábricas funcionavam três turnos…

Os almirantes japoneses não acreditavam que um “pequeno” navio de guerra conseguiu afundar 6 submarinos em 12 dias
Os almirantes japoneses não acreditavam que um “pequeno” navio de guerra conseguiu afundar 6 submarinos em 12 dias No vasto e turbulento teatro do Pacífico na Segunda…

Dia Um da Terceira Guerra Mundial: O Que Cada Americano Veria
Dia Um da Terceira Guerra Mundial: O Que Cada Americano Veria Passamos a maior parte dos últimos 80 anos imaginando como tudo começaria. Vimos os filmes, lemos…

O Que Churchill Admitiu ao Ver as Tropas Americanas Finalmente Marchando por Londres Pela Primeira Vez
O Que Churchill Admitiu ao Ver as Tropas Americanas Finalmente Marchando por Londres Pela Primeira Vez 7 de dezembro de 1941 — uma data gravada na consciência…

Os ases alemães zombavam do P-51 Mustang — até que mais de 200 deles apareceram sobre Berlim
Os ases alemães zombavam do P-51 Mustang — até que mais de 200 deles apareceram sobre Berlim Os ases da Luftwaffe costumavam rir do P-51 Mustang, chamando-o…

Uma estudante pobre se apaixona por um mendigo… e descobre que ele é bilionário
Uma estudante pobre se apaixona por um mendigo… e descobre que ele é bilionário Mire e Josiane caminhavam lado a lado no caminho de volta da escola,…