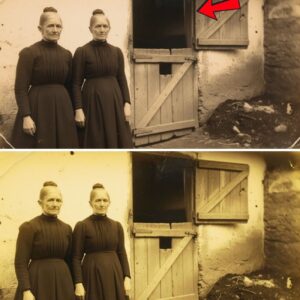Bem-vindo a este percurso, por um dos casos mais inquietantes registrados na história do Mato Grosso. Antes de iniciar, convido você a deixar nos comentários de onde está nos assistindo e a hora exata em que escuta esta narração. Nos interessa saber até que lugares e em quais momentos do dia ou da noite chegam estes relatos documentados.
A estrada que corta o antigo território dos Bororo no Mato Grosso não era mais que uma trilha de terra batida em 1892. Na época, a região ainda conservava grandes extensões de mata virgem, interrompidas apenas por fazendas isoladas e pequenos vilarejos que surgiam à medida que o interior do Brasil era lentamente ocupado.
Foi nesse cenário, entre o rio Cuiabá e a Serra das Araras que ocorreu um dos casos mais perturbadores já registrados nos arquivos da antiga delegacia de Cuiabá. O que tornou este caso particularmente notável foi a forma como permaneceu quase completamente desconhecido do público por décadas. Os documentos referentes a ele foram arquivados em uma sessão reservada do cartório municipal, catalogados apenas como ocorrência 27 de 1892, desaparecimento na região da comunidade Bororo.

Os papéis amarelados pelo tempo só vieram a público em 1965, quando um historiador chamado Antônio Dias Cardoso os descobriu durante uma pesquisa sobre conflitos entre colonos e povos indígenas no final do século XIX. Naquela região onde a fronteira entre o civilizado e o selvagem era constantemente disputada, a família Mendonça havia estabelecido uma propriedade de tamanho considerável, dedicada principalmente à criação de gado.
O patriarca Joaquim Mendonça era conhecido na região como um homem obstinado e de poucas palavras, que havia adquirido suas terras após anos trabalhando para outros fazendeiros. Em 1887, ele finalmente conseguiu comprar uma gleba própria, trazendo consigo a esposa Elisa e três filhos. Pedro, então, com 22 anos, Luís com 19 e Ana com 16. O que os registros daquela época não mencionavam e que só se revelaria anos depois era que o terreno adquirido por Joaquim se encontrava numa área historicamente ocupada pelo povo Bororo, mais especificamente pelo subgrupo conhecido como Bororu oriental. Essas terras próximas ao que hoje é a cidade
de Rondonópolis eram consideradas sagradas pelos indígenas por conterem locais de rituais e sepultamentos ancestrais. Segundo consta nos diários de Elisa Mendonça, encontrados décadas depois no sótam da casa principal, os primeiros anos da família na propriedade transcorreram sem grandes incidentes. Os selvagens permanecem na mata e nós nos limitamos às áreas já limpas”, escreveu ela em uma entrada datada de outubro de 1889.
Joaquim diz que não há motivo para preocupação enquanto respeitarmos os limites do rio. O contato mais significativo entre os Mendonça e os Bororo ocorreu no início de 1892, quando Pedro Mendonça, o filho mais velho, encontrou uma jovem indígena ferida próxima à margem do rio que delimitava a propriedade.
Segundo seu próprio relato registrado posteriormente pelo delegado Horácio Alves, a indígena apresentava um ferimento na perna, aparentemente causado por um animal selvagem. Ela não conseguia andar e parecia ter perdido muito sangue”, declarou Pedro. Não pude deixá-la ali para morrer. Ele a levou então para a fazenda, onde Elisa tratou do ferimento. A jovem, que mais tarde seria identificada como Araci, permaneceu na casa dos Mendonça durante o período de recuperação.
O que começou como um ato aparentemente humanitário, logo se transformaria no epicentro de uma série de eventos perturbadores. Os documentos da época não esclarecem completamente como a comunicação entre Araci e a família Mendonça se estabeleceu, dada a barreira linguística.
Porém, relatos de trabalhadores da fazenda coletados durante a investigação sugerem que Pedro rapidamente desenvolveu um interesse particular jovem indígena. Manuel Silveira, um dos peões que trabalhava na propriedade, declarou em seu depoimento: “O patrão moço mudou depois que trouxe a Índia. Passava horas no quarto onde a colocaram e quando saía de lá tinha um olhar diferente.
A patroa não gostava daquilo. Eu via bem”. De acordo com as anotações no diário de Elisa, Araci permaneceu na fazenda por aproximadamente dois meses. A relação entre ela e Pedro parece ter evoluído de formas que causavam desconforto ao restante da família. Pedro insiste que ela não está pronta para retornar.
Joaquim está preocupado com as consequências de mantê-la aqui por tanto tempo. Os outros índios podem pensar que a capturamos, escreveu Elisa em março de 1892. Foi em 22 de abril daquele mesmo ano que o caso tomou um rumo ainda mais perturbador. Naquela manhã, de acordo com os registros, Pedro encontrou o quarto de Araci vazio. A janela estava aberta e não havia sinais de luta ou violência.
A primeira suposição da família foi que a jovem havia simplesmente retornado à sua aldeia agora que estava recuperada. No entanto, Pedro insistiu que algo estava errado. Segundo o depoimento de Luís, seu irmão Pedro estava fora de si após o desaparecimento. Ele acusava ora meu pai, ora os trabalhadores.
Dizia que alguém a tinha levado, que ela nunca fugiria assim. Pedro organizou buscas na propriedade e até mesmo adentrou o território Bororo, algo que a família evitava fazer por temer conflitos. Durante as semanas seguintes, a fazenda dos Mendonça foi tomada por uma atmosfera cada vez mais tensa.
Pedro, antes considerado o mais equilibrado dos filhos, tornou-se obsessivo e instável. De acordo com os registros, ele mal dormia, constantemente saindo para procurar por Araci, muitas vezes retornando apenas na manhã seguinte, sujo e exausto. Em seu diário, Elisa expressa preocupação crescente. Pedro não é mais o mesmo. Seus olhos têm um brilho febril.
Ontem o encontrei no quarto dela, sentado no chão, olhando para a parede. Quando perguntei o que fazia, ele apenas disse que conseguia sentir o cheiro dela no ar. Foi no início de junho de 1892, aproximadamente seis semanas após o desaparecimento de Araci, que os trabalhadores da fazenda começaram a relatar ocorrências estranhas na propriedade.
Objetos eram movidos durante a noite. Pegadas apareciam em áreas recém-limpas. Sons inexplicáveis eram ouvidos próximos ao celeiro. Joaquim Mendonça, homem prático e pouco inclinado a superstições, atribuiu esses eventos a animais selvagens ou ao vento. Pedro, no entanto, desenvolveu uma teoria própria.
De acordo com Luís, seu irmão estava convencido de que Araci havia retornado e estava se escondendo na propriedade. lhe dizia que ela estava ali observando, mas não queria ser encontrada. Falava como se fosse um jogo entre eles”, declarou Luís durante a investigação. Nós tentávamos fazê-lo ver a razão, mas ele se tornava agressivo quando contrariado.
Em meados de junho, Pedro começou a deixar comida em locais específicos da fazenda, próximo ao riacho, na orla da Mata, no antigo depósito. Pela manhã, segundo ele, a comida havia sido consumida. Isso apenas reforçou sua convicção de que Araci estava por perto. O comportamento de Pedro era apenas o começo de uma sequência de eventos cada vez mais perturbadores que se abateria sobre a família Mendonça.
Enquanto isso, na aldeia Boro, a 4 horas de caminhada da fazenda, outro drama se desenrolava silenciosamente. De acordo com relatos coletados anos depois pelo antropólogo Carlos Eduardo Meirelles, que entrevistou descendentes dos Bororo, que viviam na região, a ausência prolongada de Araci havia causado como na aldeia.
Ela era filha de um importante líder espiritual e sua captura, pois era assim que entendiam sua permanência na fazenda dos brancos, foi vista como uma grave transgressão. “Os mais velhos contam que houve muita discussão sobre o que fazer”, registrou Meirelles em 1967. Alguns queriam atacar a fazenda imediatamente, outros temiam retaliação dos brancos que tinham armas de fogo.
Quando souberam que ela havia desaparecido também da casa dos brancos, acreditaram que espíritos malignos estavam envolvidos. Na fazenda, a situação deteriorava rapidamente. Em 22 de junho, exatamente dois meses após o desaparecimento de Araci, Pedro teve o que sua mãe descreveu como um episódio de demência completa.
De acordo com o diário de Elisa, ele acordou durante a noite, gritando que podia ouvir Araci chamando por ele. antes que pudessem contê-lo, correu para fora em direção à mata, sem levar qualquer equipamento ou arma. Joaquim, Luís e dois trabalhadores passaram horas procurando por Pedro na escuridão, mas só o encontraram na manhã seguinte, sentado à beira do riacho, com o olhar perdido e completamente mudo.
Quando questionado sobre onde estivera ou o que vira, ele apenas balançava a cabeça, recusando-se a falar. Ele voltou, mas não voltou”, escreveu Elisa. “Seu corpo está aqui, mas sua mente parece estar em outro lugar”. Nos dias que se seguiram, Pedro permaneceu em um estado quase catatônico, comendo pouco e falando menos ainda.
O murmurava frases desconexas, muitas das quais mencionavam Araci, e algo sobre o que ela mostrou. Foi em 29 de junho, uma semana após o episódio noturno de Pedro, que Joaquim Mendonça finalmente decidiu buscar ajuda externa. Ele viajou até Cuiabá, retornando três dias depois com o padre Manuel Santana e o médico Dr. Augusto Correa. O padre realizou orações e rituais na casa enquanto o médico examinou Pedro, diagnosticando-o com febre cerebral induzida por estresse e exposição aos elementos.
O tratamento prescrito por Dr. Correa consistia principalmente em repouso e chás calmantes. No entanto, de acordo com o diário de Elisa, a condição de Pedro não apresentou melhora significativa. O médico diz que ele precisa de tempo, que sua mente está fraturada pela obsessão. O padre sugere que pode haver mais nisso, algo que ele não quer dizer claramente.
Em 10 de julho, cerca de duas semanas após episódio, Pedro finalmente começou a falar de forma mais coerente. O que ele tinha a dizer, no entanto, apenas aprofundou o mistério. De acordo com o relato de Luís, Pedro afirmava ter encontrado Araci na noite em que correu para a mata, mas não a Araci que conheciam.
Ele dizia coisas estranhas, relatou Luís ao delegado mais tarde, que ela o havia levado para um lugar onde o tempo não passava da mesma forma que ela tinha lhe mostrado o outro lado do mundo. Falava que ela não era como pensávamos, que nenhum deles era. Joaquim e Elisa interpretaram essas declarações como delírios resultantes da condição mental fragilizada de Pedro.
Doutor Correa, quando consultado novamente, concordou com essa avaliação, recomendando que não contradicessem o paciente, mas tampouco alimentassem suas fantasias. No entanto, o comportamento de Pedro passou por uma transformação gradual nas semanas seguintes. Ele se tornou mais calmo, mais presente, embora conservasse um ar distante e melancólico.
começou a fazer longas caminhadas pela propriedade, sempre sozinho, retornando com pequenos objetos, pedras de formatos incomuns, penas, pedaços de madeira retorcida que arranjava cuidadosamente em seu quarto. Em seu diário, Elisa expressou o alívio cauteloso.
Pedro parece estar voltando a nós, ainda que não completamente. já não menciona Araci com a mesma frequência e voltou a ajudar nas tarefas da fazenda. Talvez esteja finalmente aceitando que ela se foi. Essa aparente normalização seria, no entanto, apenas uma breve pausa antes dos eventos verdadeiramente perturbadores que estavam por vir. Em 15 de agosto, Joaquim notou que algumas ferramentas haviam desaparecido do celeiro, uma pá, um machado, cordas e uma picareta.
Suspeitando de roubo por parte de algum trabalhador, ele fez um inventário completo, descobrindo que vários outros itens menores também haviam sumido ao longo das semanas anteriores. As suspeitas iniciais recaíram sobre dois trabalhadores recém-cratados, mas logo uma conexão mais sinistra emergiu.
Luís, que havia começado a observar o irmão mais de perto desde seu colapso, notou que as caminhadas solitárias de Pedro seguiam um padrão específico. Ele sempre se dirigia para a mesma área, uma elevação rochosa, a cerca de uma hora da casa principal, no limite da propriedade. Movido pela curiosidade e pela preocupação, Luís decidiu seguir o irmão discretamente em 19 de agosto.
O que descobriu mudaria para sempre o curso dos eventos. De acordo com seu depoimento posterior, Pedro havia criado uma espécie de acampamento na encosta rochosa, parcialmente escondido por vegetação densa. Lá ele viu as ferramentas desaparecidas e sinais de escavação extensa.
Ele estava cavando na rocha, abrindo um buraco na encosta”, relatou Luís. Havia marcações estranhas nas pedras ao redor, símbolos que não reconheci. Parecia que ele estava tentando abrir uma passagem para algum lugar. Luís observou o irmão trabalhar por quase 2 horas, impressionado com a determinação quase sobrenatural com que Pedro atacava a rocha.
Em nenhum momento ele parou para descansar ou beber água, apesar do calor intenso. Mais perturbador ainda eram os momentos em que Pedro parecia falar com alguém que não estava lá. Ele parava, inclinava a cabeça como se estivesse ouvindo instruções e então continuava escavando com renovada energia”, descreveu Luiz.
Várias vezes o ouvi dizer: “Estou quase lá”. E você prometeu que estaria aqui. Alarmado com o que vira, Luís retornou à fazenda antes que pudesse ser descoberto e relatou tudo a Joaquim. O patriarca, já exausto das excentricidades do filho mais velho, decidiu que era hora de uma intervenção direta. Naquela mesma noite, ele confrontou Pedro durante o jantar, exigindo explicações sobre as ferramentas desaparecidas e a escavação secreta.
A reação de Pedro surpreendeu a todos. Em vez de negar ou tentar esconder suas atividades, ele respondeu com uma calma perturbadora: “Estou construindo um portal para o mundo dela, pai. Ela me mostrou como quando estiver pronto todos vão entender. Joaquim, homem de pouca paciência para o que considerava bobagens, proibiu Pedro de continuar com aquela tolice e ordenou que devolvesse todas as ferramentas imediatamente.
A discussão escalou com Pedro eventualmente declarando que ninguém poderia impedi-lo de completar sua tarefa, pois ela estaria esperando. Ele saiu da casa enfurecido e não retornou naquela noite. Na manhã seguinte, quando Joaquim e Luís foram ao local da escavação, com a intenção de recuperar as ferramentas, encontraram o acampamento completamente desmontado.
Não havia sinal de Pedro, das ferramentas ou de qualquer escavação recente. Os únicos vestígios eram marcas profundas no solo, sugerindo que objetos pesados haviam sido arrastados. Acreditando que Pedro havia simplesmente movido sua operação para outro local, provavelmente ainda mais isolado, Joaquim organizou buscas pela propriedade.
No entanto, após dois dias sem qualquer sinal do filho ou das ferramentas desaparecidas, a preocupação da família transformou-se em verdadeiro alarme. Foi neste ponto que Joaquim finalmente decidiu reportar o desaparecimento às autoridades. Em 22 de agosto, ele viajou novamente a Cuiabá, onde registrou uma queixa formal na delegacia.
O delegado Horácio Alves, reconhecendo a gravidade da situação, designou dois oficiais para acompanhar Joaquim de volta à fazenda e iniciar as buscas oficiais. Os dias que se seguiram foram marcados por buscas intensas nas matas e morros que circundavam a propriedade dos Mendonça. Indígenas Bororo, já cientes do novo desaparecimento, observavam a movimentação à distância, evitando qualquer contato com os homens brancos armados.
Em 25 de agosto, o grupo de busca fez uma descoberta perturbadora. Há aproximadamente 4 km da casa principal, em uma área particularmente densa da mata, encontraram o que parecia ser outro local de escavação. Uma abertura de cerca de 1 m de diâmetro havia sido cavada na base de uma formação rochosa. ferramentas, presumivelmente as mesmas que haviam desaparecido da fazenda, estavam espalhadas ao redor, algumas quebradas pelo uso excessivo.
Mais preocupante, porém, era a mensagem entalhada em um tronco próximo. Em letras irregulares e profundas, lia-se: Encontrei a porta. Ela estava certa. Os oficiais, decidindo que a abertura na rocha poderia ser uma caverna natural, onde Pedro talvez estivesse se abrigando, enviaram um dos homens de volta à fazenda para buscar lanternas e cordas.
Enquanto esperavam, examinaram os arredores, encontrando mais sinais da presença recente de Pedro. Restos de uma pequena fogueira, embalagens de alimentos, uma camisa rasgada que Elisa identificaria posteriormente como pertencente ao filho. Quando o equipamento chegou, o delegado Alves, que havia se juntado ao grupo naquele dia, liderou a exploração da abertura.
O relatório oficial descreve o que encontraram de forma surpreendentemente sucinta. A cavidade inicialmente estreita alarga-se após aproximadamente 2 m, formando uma câmara natural de tamanho considerável. No centro da câmara encontramos um arranjo circular de pedras, no meio do qual havia um monte de terra recentemente escavada.
Não havia sinal do desaparecido. O que o relatório oficial omite e que só se revelaria anos depois, através dos diários pessoais do delegado Alves, eram os outros elementos encontrados na câmara. As paredes estavam cobertas por símbolos que nunca vi antes, nem mesmo entre os indígenas da região”, escreveu ele. “Pareciam ter sido feitos com carvão e algum tipo de pigmento vermelho”.
No arranjo de pedras encontramos pequenos objetos, contas, penas, ossos que pareciam ser de pequenos animais dispostos em um padrão claramente deliberado. Mais perturbador ainda foi o que encontraram sob o monte de terra no centro do círculo. Ao removê-la, os homens descobriram um pequeno poço de aproximadamente 5 m de profundidade.
fundo havia um tecido dobrado que quando aberto revelou mechas de cabelos de duas cores distintas entrelaçadas em um padrão complexo. Mendonça identificou uma das mechas como pertencente ao filho, continuou Alves em seu diário. A outra, mais escura e mais grossa, suspeitamos ser de Araci, o que significa não posso imaginar.
Mas o velho ficou visivelmente abalado ao ver aquilo. A descoberta intensificou as buscas que agora incluíam não apenas os oficiais e trabalhadores da fazenda, mas também moradores de propriedades vizinhas. Durante cco dias vasculharam sistematicamente a região, focando particularmente em outras formações rochosas semelhantes àquela onde a cavidade havia sido encontrada.
Em 30 de agosto, um dos grupos de busca reportou ter visto brevemente um homem que correspondia à descrição de Pedro, movendo-se rapidamente através de um trecho denso da mata. Quando o chamaram, o homem fugiu, desaparecendo entre as árvores antes que pudesse ser alcançado. Marcas de passos e galhos quebrados confirmaram que alguém havia passado por ali recentemente, mas a trilha se perdia em um riacho próximo.
Foi neste ponto que os eventos tomaram um rumo ainda mais estranho. Na noite de 31 de agosto, todos os grupos de busca retornaram à fazenda para descansar e planejar o dia seguinte. De acordo com os relatos, por volta das 2 horas da madrugada, Elisa acordou com o que descreveu como um som como nunca ouvi antes, metade grito humano, metade alguma coisa que não consigo nomear.
O som parecia vir da direção das colinas onde a cavidade havia sido encontrada. Joaquim, os oficiais e vários trabalhadores se armaram e saíram imediatamente, apesar da escuridão. Usando lanternas, seguiram na direção aproximada do som. Após cerca de meia hora de caminhada difícil, chegaram a uma clareira que não havia sido explorada anteriormente.
O que encontraram lá seria objeto de especulação e controvérsia por décadas. O relatório oficial, novamente, é econômico nos detalhes. Na clareira, encontramos sinais de atividade recente, incluindo uma fogueira ainda quente e pegadas múltiplas. Não havia, porém, qualquer sinal do desaparecido. O diário de Alves, no entanto, oferece uma descrição muito diferente.
A clareira parecia ter sido palco de algum tipo de ritual. Havia um círculo perfeito de aproximadamente 6 m de diâmetro, onde a vegetação rasteira havia sido completamente removida. No centro, além da fogueira, havia outro arranjo de pedras, maior e mais elaborado que o anterior. As pedras estavam manchadas com algo que parecia ser sangue, ainda úmido, mais perturbador eram as pegadas.
Conforme notado por um dos oficiais, havia dois tipos distintos, um claramente humano, possivelmente de Pedro, e outro que nenhum dos presentes conseguiu identificar com certeza. Parecem pegadas humanas mais diferentes escreveu Alves, mais longas, com marcas estranhas onde deveriam estar os dedos. Mendonça insiste que são pegadas de índios.
Mas trabalhei com rastreadores indígenas por anos e nunca vi nada assim. As pegadas não identificadas formavam um padrão circular ao redor do arranjo de pedras, enquanto as pegadas humanas saíam da clareira em direção ao norte. A equipe tentou seguir essa trilha, mas ela desaparecia abruptamente após cerca de 200 m, como se a pessoa tivesse simplesmente se desvanecido no ar.
Nos dias que se seguiram, as buscas continuaram, agora com o auxílio de cães farejadores trazidos de Cuiabá. Os animais seguiram o rastro até o mesmo ponto onde as pegadas haviam desaparecido, onde ficaram visivelmente agitados, correndo em círculos e uivando de maneira angustiada. Para além daquele ponto, recusavam-se a avançar, não importando quanto seus treinadores insistissem.
Em 6 de setembro, após quase duas semanas de buscas infrutíferas, o delegado Alves oficialmente encerrou a operação. Em seu relatório final, ele concluiu: “O desaparecimento de Pedro Mendonça permanece sem solução. Todas as evidências indicam que ele deixou a propriedade de seu pai por vontade própria, possivelmente em estado de desequilíbrio mental.
Recomenda-se que a família seja notificada caso ele retorne ou seja avistado na região. A família Mendonça jamais se recuperou completamente desses eventos. De acordo com registros paroquiais e correspondências preservadas, Joaquim e Elisa abandonaram a fazenda menos de um ano depois, retornando para São Paulo, de onde haviam vindo originalmente.
A propriedade foi vendida por uma fração de seu valor a um fazendeiro local, que relatou dificuldades em manter trabalhadores devido a rumores de que o local era amaldiçoado. Luiz e Ana Mendonça eventualmente casaram-se e estabeleceram-se em Cuiabá. Embora segundo correspondências encontradas anos depois, ambos se recusassem terminantemente a visitar ou sequer mencionar a antiga propriedade da família.
O caso poderia ter permanecido completamente esquecido se não fosse pela descoberta acidental feita pelo historiador Antônio Dias Cardoso em 1965. Enquanto pesquisava registros de conflitos entre colonizadores e indígenas, ele encontrou os documentos relacionados ao desaparecimento de Pedro Mendonça e, reconhecendo a natureza incomum aprofundou sua investigação. Cardoso não apenas examinou os registros oficiais e o diário do delegado Alves, mas também rastreou descendentes da família Mendonça e entrevistou membros remanescentes da comunidade Bororo, que ainda habitavam a região. Foi através
dessas entrevistas que ele fez uma descoberta surpreendente. De acordo com os relatos dos anciãos Bororo, coletados por Cardoso e posteriormente pelo antropólogo Carlos Eduardo Meirelles, Araci não era uma pessoa comum em sua comunidade. Filha de um importante pajé, ela havia sido identificada desde cedo como alguém com uma conexão especial com o mundo espiritual.
Seu desaparecimento e mais importante, o fato de não ter retornado à aldeia após escapar da fazenda dos brancos, foi interpretado como um evento de grande significado espiritual. Os mais velhos falam dela como alguém que cruzou a fronteira”, registrou Meirelles em suas notas de campo de 1967. Eles têm uma expressão específica para isso em sua língua, que aproximadamente se traduz como aquela que caminha entre mundos.
Segundo a tradição Bororo, existem certos locais na floresta onde as barreiras entre diferentes realidades se tornam mais finas, permitindo a passagem para o que chamam de o outro lado do céu. Mais intrigante ainda foi o que Meirelles descobriu sobre a relação entre Araci e Pedro Mendonça.
De acordo com as histórias preservadas pelos Bororo, houve de fato um homem branco que seguiu Araci para o outro lado. Nas narrativas tradicionais, esse homem é descrito como alguém que tinha os olhos abertos, uma expressão usada para designar pessoas capazes de perceber realidades além do mundo físico ordinário. Ela permaneceu entre os brancos apenas o tempo necessário para determinar se ele realmente possuía a capacidade de cruzar. E quando confirmou isso, retornou para preparar o caminho.
Cardoso e Meirelles, ambos acadêmicos comprometidos com abordagens científicas, interpretaram essas narrativas como elaborações mitológicas de eventos reais. Possivelmente Ara havia de fato fugido e coincidentemente Pedro havia desaparecido logo depois, talvez tentando encontrá-la e perdendo-se na matá.
Na versão Bororo da história, Araci não foi capturada, escreveu Meirelles, mas deliberadamente se deixou encontrar pelo homem branco, reconhecendo nele alguém que poderia ver. No entanto, alguns elementos permaneciam difíceis de explicar racionalmente. As estranhas pegadas descritas no diário de Alves, o súbito desaparecimento da trilha de Pedro, o comportamento dos cães farejadores.
E talvez mais perturbador o que Meirelles descobriu ao visitar a região onde a cavidade havia sido encontrada em 1992. O local onde Mendonça supostamente escavou não existe mais, escreveu ele. Não há qualquer formação rochosa correspondente à descrita nos relatórios. Os moradores locais afirmam que houve um deslizamento massivo em meados dos anos 40, que alterou completamente a topografia da área, mas não há registros oficiais de tal evento.
Quando Meirelles tentou localizar a clareira, onde o suposto ritual havia ocorrido, guiado pelas coordenadas e descrições do relatório de Alves, encontrou apenas mata fechada, sem qualquer sinal de uma clareira natural ou artificial. É como se o próprio terreno tivesse engolido qualquer traço desses eventos observou. Em 1968, Cardoso conseguiu localizar e entrevistar Ana Mendonça, então uma senhora de 92 anos vivendo em uma pequena casa nos arredores de Cuiabá.
Ainda lúcida, apesar da idade avançada, Ana forneceu detalhes que não constavam em nenhum dos registros oficiais. Meu irmão mudou depois que trouxe aquela moça para nossa casa”, disse ela a Cardoso. No começo, parecia apenas fascinação o tipo de interesse que um jovem homem poderia ter por uma mulher bonita e diferente de todas que ele conhecia.
Mas com o tempo tornou-se algo mais profundo, mais perturbador. Segundo Ana, Araci e Pedro desenvolveram uma forma própria comunicação, uma mistura de gestos, palavras em português que ela aprendia rapidamente e alguns termos na língua bororo que ele havia absorvido. Eles conversavam por horas.
Às vezes eu passava pela porta do quarto dela e os ouvia falando em sussurros. Quando entrava, eles imediatamente silenciavam. O que mais inquietava Ana, entretanto, não eram essas conversas, mas o que ela presenciou certa noite, cerca de uma semana antes do desaparecimento de Araci. Acordei com sede e desci para buscar água.
Ao passar pela sala, vi Pedro e ela sentados no chão, frente à frente. Entre eles havia um pequeno arranjo de pedras, semelhante ao que seria encontrado mais tarde na caverna. Eles tinham os olhos fechados e balançavam suavemente, como se estivessem em trans. Ana relatou que, ao perceber sua presença, Araci abriu os olhos e a encarou de uma forma que a fez gelar por dentro. Não eram os mesmos olhos”, contou.
“Evam completamente negros, sem a parte branca. Por um momento, pensei estar vendo coisas por causa da escuridão. Quando pisquei, seus olhos voltaram ao normal. Ela sorriu para mim de um jeito, como se soubesse algo que eu jamais entenderia.” Na manhã seguinte, Ana tentou falar com Pedro sobre o que vira, mas ele reagiu com irritação em comum.
Ele me disse para nunca mais espioná-los, que eu não compreendia o que estava acontecendo. Disse que Araci estava lhe mostrando verdades além deste mundo. Quando insisti que aquilo parecia algum tipo de ritual pagão, ele riu de uma forma que não reconheci e disse: “Não é religião, Ana, é realidade, uma realidade mais antiga e verdadeira que tudo que nos ensinaram.
” Esse foi o último registro da entrevista com Ana Mendonça. De acordo com as notas de Cardoso, a idosa ficou visivelmente perturbada ao relembrar esses eventos e pediu para encerrar a conversa. Ela faleceu menos de um mês depois de causas naturais, levando consigo quaisquer outros detalhes que pudesse ter sobre o caso.
O historiador continuou sua investigação tentando localizar outros descendentes dos envolvidos. Em 1969, ele encontrou Martim Alves, neto do delegado Horácio Alves, que havia preservado não apenas o Diário Oficial do Avô, mas também um conjunto de anotações pessoais que nunca haviam sido tornadas públicas.
Essas anotações revelavam que o delegado Alves continuou obsecado pelo caso Mendonça muito depois do encerramento oficial da investigação. Ele retornou várias vezes à região nos anos seguintes, frequentemente sozinho, mapeando a área e entrevistando discretamente tanto os colonos quanto os indígenas locais.
Em uma entrada particularmente inquietante, datada de março de 1894, quase 2 anos após o desaparecimento de Pedro, Alves registrou um encontro perturbador. Hoje, enquanto investigava a região ao norte da antiga clareira, tive a distinta impressão de estar sendo observado. Ao me virar rapidamente, vislumbrei o que parecia ser um homem parcialmente oculto entre as árvores, a aproximadamente 50 m de distância.
Embora não pudesse distinguir claramente suas feições, algo em sua postura me pareceu familiar. Alves descreveu como tentou se aproximar, chamando pelo nome de Pedro. A figura recuou para mais fundo na mata. O delegado a seguiu por quase uma hora até perder completamente seu rastro próximo a uma formação rochosa que não constava em seus mapas anteriores.
O mais perturbador, continuou ele, não foi a figura em si, mas o que encontrei no local onde a perdi de vista. Entalhado na rocha recentemente a julgar pela aparência, estava o mesmo símbolo que havia visto nas paredes da cavidade dois anos antes. Abaixo dele, escrito com o que parecia ser carvão, estava uma única palavra: “enha.
” Alves não relatou esse encontro oficialmente, aparentemente temendo por sua reputação profissional. Em suas anotações pessoais, no entanto, ele registrou mais duas ocasiões em 1895 e 1896, em que acreditou ter avistado brevemente a mesma figura. Em nenhuma dessas vezes conseguiu se aproximar o suficiente para confirmar se realmente se tratava de Pedro Mendonça.
Após 1896, não há mais menções a esses avistamentos, embora Alves tenha continuado a visitar a região periodicamente até 1903, quando se aposentou e se mudou para o Rio de Janeiro. O neto do delegado também compartilhou com Cardoso uma correspondência encontrada entre os pertences do avô, datada de 1907, enviada por um certo padre Clemente Xavier, missionário que trabalhava com Osbororo.
Na carta, o padre relatava algo que havia ouvido dos indígenas. Eles falam de um homem branco que vive na floresta, mas não como os outros brancos. Dizem que ele pertence a dois mundos e pode atravessar as sombras. Inicialmente pensei tratar-se de alguma lenda local, mas quando me mostraram um objeto que supostamente pertencia a esse homem, um relógio de bolso antigo com as iniciais PM gravadas na parte interna, fiquei verdadeiramente intrigado.
indígenas afirmam que esse homem vive com uma mulher Bororo em um local que chamam de A terra Entre, acessível apenas através de certas passagens secretas na floresta conhecidas apenas por alguns iniciados. O padre concluía, expressando sua opinião, de que provavelmente se tratava de algum desertor ou criminoso foragido que havia se adaptado à vida entre os indígenas. adotando seus costumes e gerando lendas em torno de si.
O relógio, supôs ele, poderia ter sido roubado ou encontrado. Cardoso, no entanto, notou a coincidência das iniciais com Pedro Mendonça e a semelhança da história com o caso que investigava. Suas tentativas de rastrear o paradeiro do relógio mencionado na carta foram infrutíferas.
O próprio padre Xavier havia falecido em 1911 e os objetos de sua missão foram dispersos ou perdidos ao longo dos anos. Em 1970, Cardoso publicou um artigo acadêmico sobre o caso intitulado Desaparecimentos na fronteira, o caso Mendonça e as intersecções culturais no Mato Grosso do século XIX.
O artigo gerou interesse moderado nos círculos antropológicos e historiográficos, mas foi amplamente ignorado pelo público geral. Carlos Eduardo Meirelles, por sua vez, continuou suas pesquisas de campo com os Bororo, focando particularmente nas narrativas tradicionais sobre passagens e mundos além. Em seus cadernos de campo, ele registrou dezenas de histórias que, embora variassem em detalhes, compartilhavam elementos comuns, locais específicos na floresta, onde as barreiras se tornavam mais finas, pessoas com habilidades especiais que podiam perceber e atravessar essas barreiras, seres que existiam simultaneamente em múltiplos mundos ou
realidades. O que é fascinante, escreveu Meirelles, é como essas narrativas Bororo se assemelham a conceitos encontrados em diversas outras tradições indígenas ao redor do mundo, bem como em certas vertentes do misticismo ocidental e oriental. A ideia de múltiplas realidades coexistentes, separadas apenas por véus ou membranas, que podem ser transpostos sob certas condições, aparece de formas surpreendentemente similares em contextos culturais completamente distintos.
Em 1972, Meirelles tentou localizar a área exata onde a fazenda dos Mendonça havia existido. A região havia passado por consideráveis mudanças nas décadas anteriores. Novas estradas cortavam a mata, fazendas maiores haviam absorvido as propriedades menores e os marcos naturais, mencionados nos relatórios de 80 anos antes, eram difíceis de identificar com certeza.
Após várias semanas de busca, auxiliado por mapas antigos e pelo conhecimento dos Borouro locais, Meirelles acreditou ter encontrado o local aproximado. Onde antes existira a casa principal da fazenda, agora havia apenas uma clareira coberta por vegetação secundária. Não restava nenhuma estrutura visível, apenas alguns fragmentos de tijolos e cerâmicas semi-enterrados, sugerindo a antiga presença de construções humanas.
Mais intrigante, no entanto, foi o que Meirelles descobriu a cerca de 4 km dali, na direção onde possivelmente se localizara a formação rochosa mencionada nos relatórios. Em uma área de mata particularmente densa, ele encontrou uma pequena cavidade natural na base de uma encosta. A abertura era estreita, permitindo apenas a passagem de uma pessoa por vez e parcialmente oculta por vegetação.
“Inicialmente hesitei em entrar”, registrou em seu diário de campo. A abertura parecia instável e potencialmente perigosa. No entanto, usando uma lanterna, pude observar que ela se alargava após o primeiro metro, formando o que parecia ser uma pequena câmara. O mais interessante, porém, foi o que vi gravado na rocha ao lado da entrada, um símbolo em espiral, extremamente semelhante ao descrito nos diários do delegado Alves.

Meirelles finalmente decidiu entrar, acompanhado por um guia boro chamado Thago. câmara interior era significativamente maior do que aparentava vista de fora, aproximadamente 5 m de diâmetro com um teto de cerca de 2 m de altura no ponto mais elevado. O chão era surpreendentemente plano, coberto por uma fina camada de areia.
O que imediatamente chamou minha atenção foram as marcas nas paredes escreveu símbolos e figuras entalhados na rocha, alguns aparentemente muito antigos, outros de execução mais recente. Thago ficou visivelmente desconfortável ao vê-los, murmurando algo em sua língua que se recusou a traduzir.
No centro da câmara havia um círculo de pedras pequenas, perfeitamente arranjadas. O interior do círculo estava vazio, exceto por uma única pedra maior, de formato aproximadamente cúbico, com cerca de 30 cm de lado. Quando Meirelli se aproximou para examinar esta pedra central, Thago o advertiu bruscamente para não tocá-la.
Ele me disse que este era um dos lugares de passagem e que a pedra era um marcador ou âncora entre os mundos. Segundo ele, mover ou perturbar a pedra poderia abrir uma porta que não deveria ser aberta. O antropólogo respeitou o aviso, limitando-se a fotografar e desenhar o arranjo sem tocá-lo. Enquanto fazia isso, notou algo incomum sobre a pedra central.
Embora o restante da câmara estivesse coberto por uma fina camada de poeira, essa pedra específica parecia completamente limpa, como se fosse regularmente tocada ou manipulada. Perguntei a Thago se as pessoas ainda vinham a este lugar, registrou Meirelles. Ele respondeu enigmaticamente que aqueles que precisam encontrar o caminho o encontram.
Quando insisti, ele acrescentou que os pajés mais velhos conheciam este e outros lugares similares e que ocasionalmente os visitavam para falar com os que estão do outro lado. Antes de deixarem a cavidade, Meirelles notou uma última coisa perturbadora. Na parede mais distante da entrada, parcialmente oculta nas sombras, havia uma inscrição que parecia mais recente que as outras.
Ao iluminá-la com sua lanterna, ele viu que consistia em dois nomes gravados lado a lado, Pedro e Araqui, conectados por uma linha horizontal. Abaixo deles, em letras menores, havia uma data, 1922. Questionei Thaago sobre a inscrição, mas ele afirmou desconheccê-la”, escreveu Meirelles. No entanto, algo em sua expressão me fez duvidar de sua sinceridade.
Quando mencionei a data, 30 anos após os eventos originais, ele simplesmente comentou: “O tempo é diferente do outro lado”. Meirelles retornou à cavidade duas vezes nos dias seguintes, fotografando e catalogando metodicamente todos os símbolos e inscrições. Ele planejava uma terceira visita, desta vez acompanhado por um especialista em geologia que pudesse analisar a formação rochosa, mas uma chuva intensa, que durou quase uma semana tornou a área inacessível.
Quando finalmente as condições melhoraram e ele pôde retornar ao local, encontrou algo inexplicável. A abertura da cavidade havia desaparecido. Onde antes existira uma entrada claramente visível, agora havia apenas rocha sólida. Inicialmente, Meirelles pensou que poderia estar no local errado, mas as marcações que havia deixado nas árvores próximas confirmavam que estava exatamente no mesmo lugar.
Examinei a rocha minuciosamente, escreveu, procurando qualquer sinal da abertura. Não havia nada, nenhuma fissura, nenhuma indicação de que algum dia existira uma passagem ali. Mais estranho ainda, não havia sinais de deslizamento ou de intervenção humana que pudesse ter selado a entrada. Era como se a própria rocha tivesse se reconstituído.
Tiago, que o acompanhava novamente, não demonstrou surpresa quando questionado, disse apenas: “As portas se abrem e se fecham. Não está na hora”. Meirelles permaneceu na região por mais duas semanas, tentando em vão localizar novamente a cavidade ou encontrar explicações para seu aparente desaparecimento. Eventualmente teve que retornar a São Paulo, onde lecionava na universidade, deixando o mistério sem solução.
Seus relatórios de campo, incluindo as fotografias e desenhos da cavidade, foram arquivados no departamento de antropologia. Em 1973, ele apresentou um artigo sobre suas descobertas em um simpósio acadêmico, mas foi recebido com considerável ceticismo.
A ausência da própria cavidade, que não poôde ser reexaminada por outros pesquisadores, comprometia seriamente a credibilidade de suas afirmações. Desapontado, mas não desanimado, Meirelles continuou suas pesquisas, retornando ao Mato Grosso sempre que possível. Em 1975, ele conseguiu localizar e entrevistar João Silveira, filho de Manuel Silveira, um dos peões que trabalhara na fazenda dos Mendonça na época dos desaparecimentos.
João, então, com cerca de 80 anos, compartilhou histórias que ouvira do pai. Ele sempre dizia que havia mais naquela história do que as pessoas sabiam”, relatou. Contava que nas semanas antes de sumir, o filho do patrão agia de um jeito esquisito, falando em mundos escondidos e portas invisíveis.
Dizia também que a Índia tinha poderes, que não era uma pessoa normal. Segundo João, seu pai afirmava que Pedro e Araci frequentemente desapareciam juntos durante horas, retornando com plantas e objetos estranhos que ninguém reconhecia. Uma vez, meu pai os viu voltando da mata. O rapaz carregava algo que parecia uma flor, mas de um tipo que meu pai, que conhecia bem a região, nunca tinha visto. Pétalas pretas com bordas luminosas, como se brilhassem no escuro.
João também mencionou um detalhe particularmente perturbador que não constava em nenhum relatório oficial. Depois que o filho do patrão sumiu, os trabalhadores às vezes ouviam vozes chamando da mata durante a noite. Não era só uma voz, mas duas, um homem e uma mulher, falando juntos numa língua que ninguém entendia. O patrão proibiu que falassem disso.
Disse que eram só o vento e os animais, mas todo mundo sabia que não era. Meirelles registrou meticulosamente todas essas histórias. reconhecendo que, após tanto tempo era impossível separar completamente fatos de elaborações e exageros. No entanto, o padrão que emergia era consistente. Pedro e Araci compartilhavam algum tipo de conhecimento ou experiência que o separava dos demais, algo relacionado a outro mundo ou outra realidade acessível através de locais específicos na floresta.
Entre 1976 e 1978, Meirelles expandiu sua pesquisa catalogando histórias similares de desaparecimentos misteriosos e portas ou passagens ocultas na mata em diversas comunidades indígenas e cabôclas da região. Embora os detalhes variassem, o tema central persistia. A existência de locais onde as barreiras entre diferentes mundos ou realidades se tornavam mais tênuis, permitindo a passagem de um lado para outro.
Em 1980, ele publicou sua Magnum Opus entre mundos, cosmologias indígenas e realidades alternativas no Brasil central, onde dedicou um capítulo inteiro ao caso Pedro Araci, apresentando-o como um exemplo de como narrativas indígenas sobre realidades múltiplas poderiam se entrelaçar com experiências de não indígenas em contextos de intenso contato cultural.
O livro recebeu algum reconhecimento nos círculos antropológicos, mas foi amplamente criticado por sua aparente legitimação de crenças consideradas primitivas ou supersticiosas. Meirelles foi acusado de abandonar a objetividade científica em favor de um misticismo romântico incompatível com a academia séria. Desiludido com a recepção, Meirelles aposentou-se precocemente da universidade em 1982 e retornou ao Mato Grosso, onde continuou suas pesquisas de forma independente.
Seus últimos anos foram marcados por um crescente isolamento da comunidade acadêmica formal e uma imersão cada vez mais profunda nas tradições e conhecimentos indígenas. Em 1989, aos 62 anos, Meirelles desapareceu durante uma expedição solitária à região onde a fazenda dos Mendonça havia existido quase um século antes.
Após duas semanas sem contato, uma equipe de busca foi enviada, mas nenhum traço dele foi encontrado além de seu acampamento abandonado e um caderno parcialmente preenchido. A última entrada no caderno datada de 13 de julho de 1989 dizia simplesmente: “Encontrei! A porta está aberta novamente.
Após todos estes anos, finalmente compreendo o que aconteceu com eles. Não é um fim, mas uma transformação. Amanhã atravessarei. As buscas oficiais foram abandonadas após um mês. O desaparecimento de Meirelles foi oficialmente atribuído a um ataque de animal selvagem ou a um acidente na floresta com o corpo provavelmente arrastado por uma enchente.
Seus documentos, incluindo o caderno final, foram enviados para seus filhos, que os doaram à universidade onde ele havia lecionado. Lá eles permaneceram arquivados e praticamente esquecidos por mais duas décadas, até que em 2010 uma jovem estudante de antropologia chamada Mariana Costa, pesquisando as contribuições de Meirelles ao estudo das cosmologias indígenas, redescobriu o material relacionado ao caso Mendonça Araci, fascinada pela história e intrigada pelos paralelos entre esse caso específico e outras narrativas de passagens entre mundos em diversas culturas globais. Mariana decidiu revisitar o local como parte de sua tese
de doutorado. Utilizando GPS e mapas detalhados, ela conseguiu identificar com razoável precisão a área onde a fazenda dos Mendonça provavelmente existira. A região agora estava quase irreconhecível. Grande parte da mata original havia sido substituída por pastagens e plantações. A expansão urbana também havia alcançado a área com pequenas propriedades e chácaras ocupando o que antes era território isolado.
Após dias de exploração infrutífera, Mariana estava prestes a desistir quando, por acaso, conheceu um idoso Bororo chamado Paulo Cadete, que vivia em uma pequena reserva próxima. Quando ela mencionou estar pesquisando o caso de Pedro Mendonça e Araci, o homem, então com mais de 90 anos, ficou visivelmente agitado. “Você não deveria mexer com essas histórias”, advertiu.
“Algumas portas é melhor deixar fechadas”. Quando pressionado, Paulo revelou que era neto de Tiago, o mesmo guia que havia acompanhado Meireles em suas explorações décadas antes. “Meu avô me contou tudo”, disse ele. Como levou o homem branco até a porta, como viu os símbolos? como ouviu as vozes do outro lado. Segundo Paulo, seu avô ficou profundamente perturbado após aquela experiência, convencido de que havia cometido um erro ao revelar o local sagrado a um estranho. Ele dizia que, ao mostrar a passagem para Meirelles, havia
desequilibrado algo, aberto, um caminho que deveria permanecer fechado por mais tempo. Mais surpreendente, porém, foi o que Paulo contou sobre os anos após o desaparecimento de Meireles. Em 1990, um ano depois que o antropólogo sumiu, meu avô estava caçando perto daquela região e viu três pessoas na mata.
Duas delas ele reconheceu imediatamente. Era o próprio Meireles e um homem mais velho, que pela descrição que tinha ouvido, só poderia ser Pedro Mendonça. A terceira era uma mulher indígena que meu avô acreditava ser Araci. Segundo Paulo, seu avô observou o trio à distância por alguns minutos, sem ser notado.
Eles pareciam estar coletando plantas e conversando animadamente, como velhos amigos. O mais estranho, porém, era que tanto Pedro quanto Araci, que se vivos, teriam bem mais de 100 anos, aparentavam ser apenas algumas décadas mais velhos do que na época de seu desaparecimento. “Meu avô não contou isso para ninguém além da família”, disse Paulo.
“Quem acreditaria?” Mas ele tinha certeza do que viu. Disse que eles pareciam não exatamente humanos, como se fossem feitos de uma substância diferente, mais leve, mais luminosa. Mariana, científica por formação, recebeu esse relato com ceticismo compreensível, considerando-o uma elaboração folclórica baseada em histórias preexistentes.
No entanto, por respeito à tradição e por completude metodológica, incluiu-o em suas anotações de campo. O que ela não conseguia explicar tão facilmente, porém, foi o que encontrou em sua última tarde na região, seguindo vagamente as indicações de Paulo sobre onde seu avô teria avistado o misterioso trio, ela explorava uma pequena área de mata preservada quando descobriu algo inesperado, uma árvore antiga com inscrições entalhadas no tronco.
Marcas estavam desgastadas pelo tempo, mas ainda legíveis. Três nomes dispostos verticalmente: Pedro, Araci, e abaixo deles Carlos, o primeiro nome de Meireles. Ao lado dos nomes, o mesmo símbolo em espiral, que havia sido descrito tanto nos diários de Alves quanto nos cadernos de campo de Meireles.
baixo dos três nomes, uma inscrição que parecia mais recente, possivelmente feita apenas alguns anos antes. As portas permanecem, o tempo é diferente do outro lado. Mariana fotografou meticulosamente a árvore e a inscrição, incluindo uma régua nas imagens para a escala. Ela coletou também amostras da casca adjacente às inscrições na esperança de realizar datação posterior e registrou as coordenadas exatas do local usando seu GPS.
Quando retornou a São Paulo, no entanto, descobriu algo inexplicável. As fotografias que havia tirado da árvore com as inscrições estavam todas corrompidas, mostrando apenas manchas escuras e indistintas. As coordenadas registradas em seu GPS apontavam para um local diferente daquele que ela tinha certeza de ter visitado.
E mais perturbador, as amostras de casca que havia coletado conham traços de um composto orgânico que seus colegas do Departamento de Química não conseguiram identificar. Mariana finalmente publicou sua tese em 2013, apresentando o caso Mendonça Araci, como um fascinante exemplo de como narrativas sobre desaparecimentos misteriosos podem evoluir e se entrelaçar com cosmologias indígenas e crenças sobre realidades alternativas.
Ela mencionou suas próprias experiências apenas em um pequeno apêndice, apresentando-as como anomalias metodológicas que mereciam investigação adicional. A tese recebeu avaliação positiva, mas as sessões referentes às suas descobertas pessoais foram amplamente ignoradas ou consideradas irrelevantes para as conclusões principais do trabalho.
Após obter seu doutorado, Mariana aceitou uma posição de pesquisadora visitante em uma universidade nos Estados Unidos. Antes de partir, porém, depositou todas as suas anotações originais, incluindo descrições detalhadas do que havia encontrado na mata no arquivo da universidade, sob a condição de que permanecessem selados por 50 anos.
Em uma nota anexa ao pacote selado, ela escreveu: “Continuo convencida de que há algo além da mera lenda nesta história os desaparecimentos de Pedro Mendonça, Araci e Carlos Meirelles permanecem inexplicados. As estranhas coincidências, os símbolos recorrentes, os relatos consistentes através de gerações, tudo aponta para algo que nossa compreensão atual da realidade não consegue acomodar facilmente.
Talvez daqui a 50 anos, quando estes documentos forem abertos, a ciência tenha avançado o suficiente para oferecer uma explicação mais satisfatória. Ou talvez, como me disse Paulo Cadete, algumas portas seja melhor deixar fechadas. Os arquivos permanecem selados até hoje, aguardando o tempo determinado para sua abertura.
Enquanto isso, a região onde esses eventos ocorreram continua a se transformar, com a mata original, dando lugar cada vez mais a pastagens, plantações e áreas urbanas. No entanto, segundo os poucos Boro, que ainda mantém suas tradições ancestrais, as portas permanecem, mesmo que escondidas, ou temporariamente inacessíveis.
Como disse um ancião a um pesquisador recente, os caminhos entre os mundos não dependem de árvores ou pedras específicas. Eles existem onde sempre existiram, invisíveis para quem não sabe ver, abertos para quem está destinado a atravessá-los. E assim o caso da indígena Araci e Pedro Mendonça permanece como um dos mistérios mais perturbadores e menos conhecidos da história do Brasil central.
Um lembrete silencioso de que nas fronteiras entre culturas e mundos diferentes, algumas vezes, a realidade pode ser mais estranha, mais complexa e mais perturbadora do que nossa razão está preparada para admitir. Quanto a Meirelles Pedro e Araci, se realmente conseguiram atravessar para o outro lado, como sugerem as lendas, ou se seus desaparecimentos têm explicações mais prosaicas e trágicas, talvez jamais saibamos com certeza.
Alguns mistérios resistem a todas as tentativas de resolução, persistindo como sombras nas margens de nossa compreensão, lembrando-nos dos limites do conhecido e da possibilidade permanente do inexplicável. Frequentemente, quando o vento sopra de maneira peculiar entre as árvores remanescentes da mata original próxima ao rio Cuiabá, os moradores locais dizem ouvir algo que poderia ser apenas o ruído natural da floresta ou poderia ser algo mais.
Vozes distantes falando em uma linguagem mista, parcialmente humana, parcialmente outra. E alguns afirmam que em certas noites, quando a lua cheia ilumina as sombras com sua luz prateada, é possível vislumbrar brevemente três figuras movendo-se entre as árvores. Um homem de barba grisalha, uma mulher indígena de porte altivo e um homem de meia idade carregando o que parece ser um caderno. São apenas histórias, é claro.
distorcidos de eventos reais, elaborados e transformados pela passagem do tempo e pela tendência humana de buscar significado e narrativa, onde talvez exista apenas coincidência e acaso. Mas para aqueles que conhecem a região, que cresceram ouvindo essas histórias passadas de geração em geração, há uma certeza perturbadora que persiste.
Algumas portas, uma vez abertas, jamais se fecham completamente. Em 2016, um pequeno grupo de pesquisadores da Universidade Federal visitou a área para um estudo arqueológico não relacionado. Durante a exploração, um dos estudantes se separou brevemente do grupo e alegou ter encontrado uma árvore com inscrições antigas, incluindo três nomes e um símbolo em espiral.
Quando retornou com os colegas, a árvore não pôde ser localizada novamente. O caso da indígena Araci permanece como um lembrete silencioso das fronteiras entre o conhecido e o desconhecido, não apenas entre culturas diferentes, mas talvez entre realidades diferentes. Os arquivos selados de Mariana Costa aguardam o tempo determinado para sua abertura, enquanto a mata continua a diminuir e os últimos Bororo que conhecem as antigas histórias desaparecem lentamente, mas os sussurros persistem carregados pelo vento noturno. E ocasionalmente alguém perdido na mata remanescente
relata ter visto três figuras caminhando juntas entre as árvores, como velhos amigos que compartilham um segredo que o resto do mundo não está preparado para compreender.